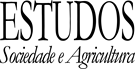 Recebido: 29.fev.2024
• Aceito: 1.nov.2024
• Publicado: 20.dez.2024
Recebido: 29.fev.2024
• Aceito: 1.nov.2024
• Publicado: 20.dez.2024
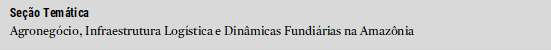
Corredor logístico, expansão de fronteiras
coloniais e territorialidades quilombolas no Maranhão
Logistics corridor, expanding colonial borders and Quilombola territories in Maranhão
|
Cíndia Brustolin[1] |
|
|
Resumo: O trabalho discute a expansão de estruturas logísticas de escoamento de grãos e minérios sobre territorialidades quilombolas no Maranhão. Em discursos governamentais e empresariais, o Estado aparece como um lugar em potencial para consolidação de um importante “Corredor Logístico”, em virtude da localização geográfica privilegiada. São projetados cenários de geração de empregos e de desenvolvimento, conferindo uma super-representatividade às propostas de empreendimentos como geradores de benefícios “públicos”. As características socioespaciais privilegiadas e a importância social dos empreendimentos são acionadas como dispositivos de colonialidade na valorização dos empreendimentos e no deslocamento dos pleitos de comunidades quilombolas para lugares menores. As discussões realizadas partem do acompanhamento de reuniões e de lives envolvendo conflitos relacionados à duplicação da BR-135, à análise de documentos e à realização de conversas com quilombolas em Itapecuru Mirim – MA.
Palavras-chave: expansão logística; quilombolas; conflitos.
Abstract: This paper discusses the expansion of logistics structures for the flow of grains and minerals over Quilombola territories in Maranhão. This state is depicted in government and business discourse as a potential site for consolidating an important “logistics corridor” because of its location; scenarios involving job creation and development are projected and strongly represent proposals for enterprises as generating “public” benefits. Advantageous socio-spatial characteristics and the social importance of these enterprises are used as devices of coloniality in boosting their value and shifting demands from Quilombola communities to smaller places. Discussions were held based on meetings and live broadcasts involving conflicts related to the widening of the BR-135 highway, document analysis and conversations with Quilombolas in Itapecuru Mirim, Maranhão.
Keywords: logistics expansion; Quilombolas; conflicts.
Introdução
As comunidades quilombolas na luta em defesa de seus territórios nas regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste, em especial nas regiões da Amazônia Legal e do Cerrado, têm se confrontado com a intensificação de projetos de exploração econômica vinculados à expansão de monocultivos, à extração mineral e à construção de logísticas de escoamento de grãos e minérios para os mercados externos (duplicação de rodovias, ampliação de estradas de ferro, construção de novos portos). Os empreendimentos e obras que avançam sobre os territórios tradicionais derivam de programas e projetos desenvolvimentistas do Estado brasileiro intensificados a partir da década de 1970 e de novos projetos, de Parcerias Público-Privadas e de investimentos estrangeiros.[2]
As configurações de poder ligadas aos projetos desenvolvimentistas implementados na Amazônia brasileira durante o período ditatorial, os investimentos mais recentes a partir de planos governamentais e empresariais, como o Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), e o avanço da fronteira agrícola para o Nordeste e Norte permitem contribuir na discussão sobre a não afirmação de direitos territoriais aos quilombolas no Brasil. O reconhecimento formal de direitos territoriais aos grupos negros e a inexpressiva titulação dos territórios, com a morosidade e/ou paralisação de processos de regularização fundiária no Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) e nos órgãos dos estados, estão ligados à herança do processo de estruturação da nação brasileira sob o regime escravista, como os efeitos da Lei de Terras de 1850 sobre o regime territorial e as políticas de branqueamento; à concentração fundiária; à violência no campo; ao racismo estrutural que persiste reproduzindo hierarquias e encontrando solo fértil nas ações estatais e empresariais; aos projetos e programas de exploração que continuam se projetando sobre territórios negros por meio de agroestratégias e políticas governamentais (Almeida; Marin, 2010).
No cenário de desvantagem estrutural em que são colocados os pleitos quilombolas, dispositivos políticos facilmente (re)produzem uma série de classificações que vinculam a expansão do modelo de extrativismo predatório (muitas vezes classificado de “desenvolvimento”) ao “bem público”, “à proteção”, “ao emprego”, “à segurança” e à “vocação natural” do lugar. Nesse sentido, há algo mais nobre e amplo que os direitos territoriais quilombolas, há uma normatividade superior a ser protegida, propondo uma representatividade excessiva a um modelo,[3] como gerador de benefícios universais à população (Escobar, 1996). A proteção formal aos territórios negros e de outras territorialidades específicas então parece estar sempre em desvantagem e sujeita a mecanismos que desestabilizam as poucas garantias institucionalizadas. Neste sentido, O’Dwyer (2016), discutindo a morosidade dos processos de regularização fundiária dos territórios quilombolas, no livro Direitos quilombolas & dever do estado em 25 anos da Constituição Federal de 1988, coloca em discussão os impedimentos à publicação dos Relatórios Técnicos de Identificação e Delimitação Territórial (RTIDs) dentro de instâncias do Estado relacionados a situações definidas como as que “deem problema para o governo” (O’Dwyer, 2016, p. 261).
O avanço das obras sobre territórios quilombolas no Maranhão projetadas em anúncios, representadas em falas, documentos e notícias, e materializadas em canteiro de obras e deslocamentos, relacionadas ao “desenvolvimento”, ao uso dos “recursos”, à “tecnologia”, seguidamente retira as comunidades negras da condição de sujeitos de direitos e as situa na condição de “populações administráveis”, como salienta Dos Anjos (2018), escancarando a face racista e autoritária do poder soberano. E mostrando os limites modernos de uma “política étnica” que sempre esbarra “nos fundamentos” (De La Cadena, 2020). Dimensões de uma colonialidade persistente no gerenciamento de vidas e territorialidades negras no Brasil.
As possibilidades de representação de empreendimentos que avançam sobre territórios como modelos de desenvolvimento estão relacionadas ao racismo estrutural e à cisão hierárquica das discussões, dos espaços de enunciação e do exercício da violência. Em recintos específicos são afirmadas realidades em que os empreendimentos se apresentam como caminho de mão única, reforçando o “consenso de commodities” discutido por Svampa (2012), operado a partir de “promessas” de segurança à população e de progresso vinculadas principalmente à extração mineral, à produção agrícola, à exploração de petróleo e gás. Em conjunto, é fortalecido um “consenso da infraestrutura”, como reflete Aguiar (2021), como o caráter imprescindível de obras e do estabelecimento de logísticas para o escoamento de produtos que domina a política de infraestrutura brasileira nos últimos anos. Consensos que produzem o silenciamento de perspectivas negras que denunciam os problemas, a relativização de direitos formalizados e a desqualificação contínua de questionamentos, a partir da tentativa de fechamento do recinto de produção, da inaudibilidade (“não ouça”), da invisibilização ou da desqualificação de proposições, dos fatos ou daqueles que os emitem. De uma impossibilidade de representação.
Este artigo discute a desqualificação de pleitos territoriais quilombolas no curso da construção de obras logísticas de escoamento de grãos e minérios no Maranhão a partir de dispositivos que podem ser pensados dentro dos marcos da colonialidade do poder e do saber, como elementos constitutivos do padrão mundial de acumulação do poder capitalista (Quijano, 2010; Lander, 2005) e dos rearranjos locais, das controvérsias em que se organizam. A fragilidade da segurança jurídica dos territórios quilombolas precisa ser pensada a partir do passado colonial das plantations e do legado das formas de habitar e de ocupar a terra. O término da situação colonial, como enfatiza Quijano (2010), não significou o rompimento com padrões de dominação que operam num sistema de classificação em que estão relacionadas variáveis raciais e as possibilidades de subjugação que orquestram o avanço da exploração capitalista.
O discurso hegemônico do avanço de empreendimentos sobre territorialidades negras pode ser pensando nos marcos de um processo civilizatório em que se afirma a proteção à população a partir de “valores básicos da sociedade liberal moderna no que diz respeito ao ser humano, à riqueza, à natureza, à história, ao progresso, ao conhecimento e à boa vida” (Lander, 2005, p. 21). Trata-se de um legado epistemológico “que nos impede de compreender o mundo a partir do próprio mundo em que vivemos e das epistemes que lhes são próprias (Porto-Gonçalves, 2005, p. 3).
Com trezentos e noventa e oito processos de regularização fundiária de territórios quilombolas abertos no Incra,[4] o estado do Maranhão contabiliza mais mortes de quilombolas do que territórios titulados nas últimas décadas,[5] mais conflitos do que a criação de políticas públicas eficazes. E, apesar destes números, é apresentado como o lugar de um privilegiado “Corredor Logístico” principalmente vinculado ao “Arco Norte”, agregando expansão portuária e ampliação de rodovias e ferrovias. Neste arranjo, o Estado reivindica seu lugar, a partir do incentivo à logística, corroborando a “visão triunfalista do agronegócio” ancorada no agenciamento de estatísticas “sobre as participações do agronegócio no PIB e nos empregos”, acionados na esfera pública como geradores de benefícios para “todo o mundo” (Pompeia, 2020, p. 210).
O trabalho discute a expansão logística no Maranhão e o atravessamento de territorialidades quilombolas a partir de revisão bibliográfica e documental, da participação em reuniões no Ministério Público Federal, na Defensoria Pública da União e na sede da Polícia Rodoviária Federal durante os últimos cinco anos e da interlocução com lideranças de comunidades quilombolas e tradicionais em conflitos relacionados à ampliação do Corredor Carajás, com foco na duplicação da BR-135 e principalmente no diálogo com lideranças do quilombo Santa Rosa dos Pretos, de Itapecuru Mirim, Maranhão.
Desenvolvimento e Invisibilidade: o vazio territorial e a constante produção do ‘não ser’
A instalação de projetos e programas de desenvolvimento tem incidido fortemente sobre a ordenação territorial do Maranhão desde a década de 1960. Inicialmente, sob o argumento de racionalizar o uso da terra, integrar economicamente a região aos centros comerciais brasileiros e internacionais, fomentar as exportações e criar uma balança comercial favorável e ainda apaziguar conflitos no campo, que apontavam em diferentes regiões do estado, foram criados projetos de colonização,[6] realizada a atração de investidores, a comercialização das terras públicas e a legalização de terras que não possuíam registros.
Os planos governamentais nos anos 1970 visavam estabelecer maior controle sobre as terras no estado, que oficialmente eram apresentadas como extensas áreas “livres”. Em 1980, foi iniciada a implantação na Amazônia Oriental, que inclui a Pré-Amazônia Maranhense, de um ambicioso projeto que envolvia a extração do minério de ferro no Pará, a criação de estrutura logística para seu escoamento pela capital maranhense (estradas de ferro, portos), a construção de hidrelétricas e investimentos produtivos. A instituição do Programa Grande Carajás (PGC) previa a ocupação e exploração de um vasto espaço territorial.
As vendas e legalizações de terras, as empresas de colonização, as ações realizadas para a implementação do PGC pouco levaram em conta a existência de um campesinato comunal nas áreas de ocupação antigas no estado e as frentes de expansão camponesa que haviam migrado de outros estados nordestinos, ocupado áreas de floresta e aberto os centros.[7] Classificados muitas vezes como invasores, camponeses perderam terras, ficando em espaços reduzidos ou nas margens de fazendas, ampliando situações de morada, agravando as cobranças de foro para o cultivo ou sendo expulsos da terra.
Como destacam Almeida e Mourão (2017), a baixa densidade populacional e a quantidade de terras públicas disponíveis, sugeridas no Censo Demográfico da Fibge e em materiais cartográficos disponíveis, contribuíram para a construção da imagem de um estoque de terras a ser explorado, um espaço territorial “vazio”, a ser destinado a atividades que permitissem um uso racional dos recursos. Entre os objetivos, estava o de garantir o assentamento de foreiros e posseiros que estavam em situações de conflito com o latifúndio em regiões ocupadas nas décadas de 1950/1960 pelas frentes camponesas que migravam de outros estados do Nordeste para o Maranhão e nas regiões de ocupação camponesa mais antiga, do vale do Itapecuru e da Baixada Maranhense, onde os latifundiários impunham cobranças de foro, pagamentos pelos roçados e pelas moradas em suas propriedades e por vezes expulsavam antigos foreiros, que cultivavam arroz, milho, mandioca há gerações. Estava em jogo “a existência de um considerável estoque de terras disponíveis no Maranhão, avaliado entre ‘90.000 km² de terras devolutas na região ‘Pré-Amazônica’ (Plano de Governo, 1971/1974, p. 174) e ‘100 mil km² de terras sem ocupação’ (Tribuzzi, 1970, p. 4)” (Almeida; Mourão, 2017, p. 79).
O “Maranhão Novo” ou o “Maranhão Carajás” emergia em várias políticas, em investimentos, em legislações, como observa Asselin (2009, p. 148). A disponibilização de um estoque de terras buscava atrair capitais do Sul e do exterior para a região. “Foi o tempo da construção das estradas que cortaram o estado, ligando, em primeiro lugar, a capital São Luís, às capitais vizinhas, e depois penetrando nas regiões do Pindaré e do Tocantins” (Asselin, 2009, p. 148). Uma série de atos jurídicos integram os projetos, como o Decreto no 3.831, de 6 de dezembro de 1968, do governador Sarney, que criou a Reserva Estadual de Terras e, no ano seguinte, a Lei Sarney de Terras (Lei no 2.979/1969, regulamentada pelo Decreto no 4.028, de 28 de novembro de 1969).
O projeto de conciliar harmonicamente o estoque de terras entre camponeses e fazendeiros e empresas agrícolas fracassou. Gistelinck (1988) destaca que após os projetos de colonização, “tanto grileiros, como os donos de grandes projetos começaram, partir dos anos 1970, a expulsar sistematicamente os posseiros encontrados na área com muita violência, praticada por grupos de pistoleiros e pela polícia” (Gistelinck, 1988, p. 15-16).
O Programa Grande Carajás, instituído pelo governo do presidente João Figueiredo, por meio do Decreto-Lei no 1.813/1980, estabeleceu um regime especial de incentivos para os empreendimentos integrantes do programa e delimitou uma área de mais de 900.000 km² da Amazônia Oriental, abrangendo espaços territoriais nos estados do Pará, do Maranhão e de Goiás (Ibase, 1983, p. 56). As primeiras cláusulas do programa, cuidaram de centralizar as decisões e de delimitar “um espaço supostamente homogêneo, instituído para fins administrativos, financeiros e fiscais”, fornecendo coordenadas geográficas à criação, ou seja, a possibilidade de uma região propícia à extração mineral e às logísticas de exportação constarem no mapa (Projeto Vida de Negro, 1993, p. 19) de modo muito específico.
No relatório realizado pelo Ibase, “Carajás, o Brasil hipoteca seu futuro”, de 1983, o Programa Grande Carajás é descrito como um dos grandes projetos de investimento do governo brasileiro naquele momento, juntamente com outros empreendimentos, que chegariam a caracterizar “um enclave econômico multissetorial com possíveis reflexos até na soberania territorial da área atingida” (Ibase, 1983, p. 14), tamanha a transformação que almejava e a atração de investimentos externos. O texto apresenta as dimensões do PGC em termos de investimentos, diversidade de setores a serem explorados e a extensa| abrangência territorial: extração de minérios, levantamento de áreas propícias ao aproveitamento agropecuário, rodovias, ferrovias, portos marítimos, um porto fluvial, hidrelétrica.
Os empreendimentos ligados ao programa Grande Carajás alteraram profundamente povoados ao longo do Corredor Carajás, com as siderurgias no Sul do Maranhão, como em Açailândia e Imperatriz, bem como com o entupimento de igarapés, a eliminação de espaços de roças, os atropelamentos nos povoados em que os trilhos de ferro cruzam o chão. Foi inaugurada também a expansão de empreendimentos na zona rural II de São Luís, fortalecendo uma “vocação portuária” à cidade e abrindo possibilidades para a criação de um distrito industrial sobre áreas rurais próximas ao centro urbano. Dois grandes empreendimentos inicialmente foram instalados na zona rural: a Companhia Vale do Rio Doce, com seus terminais ferroviários e portuários, e uma usina de produção de ferro gusa, que se constitui na primeira e mais poluente etapa da produção do aço, e o Consórcio Alumínio do Maranhão (Alumar), com seu porto e uma planta industrial ... (Sant’ana Junior, 2016).
A construção provocou inúmeras situações de deslocamentos de povoados rurais secularmente presentes nas áreas que foram destinadas a essas empresas. Os processos de expansão industrial sobre a zona rural de São Luís não cessaram desde a década de 1970. Nos anos 1990, as lideranças da região e aliados mobilizaram-se contra a criação de um polo siderúrgico. Em 2011, “iniciou-se a instalação da Termelétrica Porto do Itaqui, pela empresa MPX”. A comunidade de Vila Madureira foi deslocada para o Residencial Nova Canãa, em Paço do Lumiar, a 40 quilômetros de seu local de origem, distante do mar e do campo agrícola disponibilizado para os moradores realizarem seus cultivos (Sant’ana Júnior; Pereira; Alves, 2010).
As projeções de investimentos, juntamente com a existência de uma área delimitada e os canteiros de obras emergencialmente abertos, criaram a região de Carajás, ao mesmo tempo que procuraram ocultar e inviabilizar a existência camponesa nessa região. O não registro, as propostas de negociação individuais com algumas famílias e uma série de ações diretas e violentas integram dispositivos que operam no avanço dos empreendimentos. Como destaca Almeida (1993), “os extermínios, os massacres e os genocídios ao destruir a possibilidade da existência coletiva também significam metaforicamente ‘apagar do mapa’, que seria um eufemismo indicativo da supressão do território do outro” (Almeida, 1993, p. 25).
Comunidades quilombolas, direitos territoriais e visibilidade
A invisibilidade das situações territoriais de povos e comunidades tradicionais, em especial as comunidades negras, nos aparatos burocráticos jurídicos está relacionada em parte ao não reconhecimento dos “sistemas de usufruto comum da terra” no ordenamento oficial agrário brasileiro, e às transformações provocadas pelos novos ordenamentos territoriais impostos com o avanço das fronteiras de exploração, a partir de empreendimentos públicos e privados sobre essas terras. Controlar, esquadrinhar o espaço, projetá-lo, ou seja, as marcas colocadas nas projeções territoriais correspondem a classificações espaciais como tecnologias políticas que estão no cerne da colonialidade do poder (Haesbart, 2021).
Laís Sá Mourão (1974) discute as formas de apropriação comunal das “terras de santa” pelos camponeses da região de Alcântara e Bequimão e suas variações. Menciona que durante seus trabalhos, na década de 1970, o governo resolveu desmembrar “as terras sob controle comunal do campesinato (nos municípios de Alcântara e Bequimão) e, declarando-as terras devolutas, promover a venda de parcelas àqueles dentre seus ocupantes que desejassem e pudessem comprá-las” (Sá Mourão, 2007, p. 30).
As formas jurídicas não contemplavam as terras comunais, permanecendo extensas áreas rurais ocupadas por um campesinato secular no Maranhão na clandestinidade em relação aos formatos legalmente existentes, como as terras públicas e a propriedade privada individual. Conforme Almeida, “a situação dominial geralmente indefinida e as dificuldades de reconstituição das cadeias dominiais tornavam estas áreas preferenciais à ação dos grileiros e de novos grupos interessados em adquirir vastas extensões” (Almeida, 2010, p. 107-108).
Por um lado, a não existência nos planos formais oculta essas situações nos cadastros públicos como formas de ocupação e vida nos espaços rurais e urbanos quando da implantação de empreendimentos, reforçando a perspectiva de um “vazio demográfico” e mais do que isso de um “vazio humano” a ser ocupado, jogando-as para a condições de inexistência ou de ilegalidade ou de inferioridade no plano jurídico e ético, como “invasores” ou “posseiros/foreiros”, a serem deslocados/eliminados. Como destaca Almeida,
os sistemas de usufruto comum da terra por colidirem flagrantemente com as disposições jurídicas vigentes e com o senso comum de interpretações econômicas oficiosas e já cristalizadas, a despeito de factualmente percebidos, jamais foram objeto de qualquer inventariamento. As extensões que lhes correspondem nunca foram catalogadas, quantificadas ou sujeitas às técnicas dos métodos estatísticos e de cadastramento de imóveis adotadas pelos órgãos de planejamento da intervenção governamental na área rural. (2010, p. 105-106)
A não formalização e a não existência em cadastros, que jogam para a informalidade, abrem espaços para a legitimação de distintos processos de violência, a grilagem, os deslocamentos forçados a partir de dispositivos de poder coloniais e raciais que se atualizam nos projetos desenvolvimentistas. Neste sentido, ao analisar políticas e projetos de integração regional na América Latina, como a IISRA, Porto Gonçalves (2018) enfatiza a lógica da colonialidade do poder e do saber na tomada de grandes áreas do espaço geográfico como “vazios demográficos” e na centralização das discussões relacionadas à expansão das estruturas logísticas aos problemas de engenharia, ou seja, às possibilidades de “obstáculos naturais” que precisariam ser superados.
A não formalização das territorialidades em planos estatais opera juntamente com o fato de serem classificados como um resquício do passado no plano econômico e civilizatório, isto é, como “sistemas tidos como ‘obsoletos’. “Representariam, sob este prisma, anacronismos mais próprios de crônicas históricas, de documentos embolorados de arquivos, de verbetes dos dicionários de folclore e de cerimônias religiosas e festas tradicionais” (Almeida, 2008, p. 135). Almeida (1993) assevera que o desconhecimento das realidades locais e a desinformação pelas instituições públicas e pelos organismos de planejamento permitem afirmar que “o descontrole funcionaria como uma forma de controle social”. Estas terras progressivamente serão palco de conflitos e muitas incorporadas aos cadastros de proprietários privados, de grandes empresas e do próprio Estado.
O senhor Justo Evangelista, importante liderança quilombola da região de Itapecuru Mirim, lembra da Ação Discriminatória da terra realizada no município de Santa Rita no “tempo maior da grilagem”, em que fazendeiros alegavam nos processos jurídicos constantemente a não existência de comunidades nos espaços rurais por eles requeridos:
Bom, em 1981, teve no município de Santa Rita, e aqui no município de Itapecuru Mirim, um movimento, não foi movimento não, pelo estado, uma ação discriminatória da terra, pra ver quem eram os proprietários, se tinha proprietário ou não, se tinha morador, porque os proprietários gostavam quando se dizia que uma terra não tinha morador, porque era o tempo maior da grilagem. Então, nesse tempo, um bispo falou comigo perguntando se tinha morador nessas áreas no município de Itapecuru Mirim e de Santa Rita, aí eu entrei nessa luta. Em Rosário, que era comarca que hoje tem Santa Rita, nós fizemos a declaração no cartório, como existia morador dentro uma terra, 120 famílias dessa região de Santa Rita. Depois passamos aqui para o Itapecuru Mirim, fazendo a declaração no cartório, que existia família porque os proprietários diziam que não tinha, que era pra eles poderem se apoderar da terra, nós fizemos aqui. Agora nós tínhamos um apoio grande da CPT (Comissão Pastoral da Terra), da arquidiocese de São Luís e também já tinha CPT diocesana da diocese de Coroatá. (Entrevista, janeiro de 2019)
Os conflitos no campo eclodiram dando visibilidade à situação de ocultamento que os projetos e programas insistiam em projetar. A violência no campo ganhou a cena pública nas décadas de 1970 e 1980, principalmente, pela repressão da polícia e de jagunços às lutas empreendidas contra o avanço da grilagem, à atuação dos movimentos ligados à Igreja Católica, à atuação do Centro de Cultura Negra nas comunidades negras. Os camponeses organizam-se para resistir: entidades confessionais agregaram camponeses em torno das ações da ACR, das Comunidades Eclesiais de Base, da CPT e dos sindicatos de trabalhadores rurais.
Nos Cadernos Conflito no Campo, organizados pela CPT anualmente desde 1985, o Maranhão despontou como um dos estados com maior número de conflitos no campo na década de 1980. Em 1985, o Caderno registra 99 casas de camponeses destruídas, 19 mortos e 40 feridos no estado, registra ainda o que seria um “terrorismo de estado ... tal o envolvimento direto do governo maranhense” (CPT, 1985, p. 18) nos conflitos.
Na década de 1980, o Centro de Cultura Negra do Maranhão (CCN), com o Projeto Vida de Negro, iniciou os mapeamentos das terras de preto no Maranhão. A relação com as entidades que já estavam nas lutas localizadas foi fundamental para os mapeamentos iniciais. Em 1986, o CCN organizou o I Encontro de Comunidades Negras Rurais do Maranhão, na cidade de São Luís (Projeto Vida de Negro, 2002, p. 30), dois anos depois, o II Encontro de Comunidades Negras Rurais do Maranhão.[8] O Projeto Vida de Negro (PVN) na sua primeira fase de atuação obteve informações sobre 97 situações de terras de preto, a partir da observação in loco e da consulta a fontes secundárias. As situações foram classificadas como “terras ditas tituladas” (pois as lideranças mencionavam serem proprietárias e terem títulos, mas não possuíam os papéis) (Projeto Vida de Negro, 2005).
Uma década após a oficialização do Programa Grande Carajás, no relatório que auxilia a leitura do mapa temático preparado para o Seminário Carajás: desenvolvimento ou destruição?, publicado como “Carajás, a guerra dos mapas: repertório de fontes documentais e comentários para apoiar a leitura do mapa temático do Seminário-Consulta “Carajás: desenvolvimento ou destruição?”, Almeida destacava que ainda era difícil precisar a sobreposição do Programa às “terras de preto”:
Mediante o caráter fragmentário dos dados e a polêmica em torno da disposição constitucional, torna-se difícil precisar a extensão total que correspondia fidedignamente a tais situações sociais. As estimativas disponíveis referentes apenas ao estado do Maranhão assinalam que as chamadas “terras de preto” ultrapassam a hum milhão de hectares, ou seja, 1,1% da região de abrangência do PGC. (Almeida, 1993, p. 181)
Na década de 1980, com a atuação do CCN e a organização do PVN, juntamente com outras frentes do movimento negro nacional, as comunidades negras iniciaram um processo de organização da luta em torno da titulação dos territórios quilombolas. A emergência das comunidades negras como sujeitos de direitos, que tem como marco a Constituição Federal de 1988, e os mapeamentos e a abertura de processos em órgãos públicos passaram a tencionar nas décadas seguintes a chegada de empreendimentos, mesmo com a morosidade dos processos de regularização fundiária, e com a violência persistente, esses grupos passaram a ocupar mapas e cadastros.
Diferentemente do período de chegada dos empreendimentos (em 1970-1980), em que as formas de apropriação territorial do campesinato comunal não tinham correspondência em registros oficiais, no caso das comunidades negras, o Incra tem registro de 399 processos de regularização fundiária no Maranhão e o Iterma informa uma lista de 71 comunidades quilombolas tituladas pelo estado.[9]
Muitos empreendimentos têm suas obras projetadas justamente sobre os territórios titulados ou reivindicados por esses grupos, que se encontram com processos formais de reconhecimento territorial em órgãos públicos, como os casos que ganharam mais visibilidade pública: a ampliação da Base de Lançamento de Alcântara sobre territórios quilombolas; a duplicação da Estrada de Ferro Carajás e as afetações aos quilombos cortados pela estrada; a construção do Porto São Luís e os deslocamentos de famílias no território do Cajueiro; a previsão de construção do Porto do Cajual em Alcântara.
Desenvolvimento, bem público e silenciamento
Novos conflitos eclodiram no curso de programas e projetos de expansão de monocultivos e de exploração mineral nas últimas duas décadas na Amazônia e no Cerrado maranhense. O projeto S11 da mineradora Vale S.A. começou a ser implantado a partir de 2004, com o objetivo de aumentar a extração e o transporte de minério de ferro a partir da exploração de uma nova mina no Pará e da duplicação da EFC. O Matopiba avançou como nova fronteira agrícola, com incentivo à expansão das lavouras de soja em regiões de ocupação camponesa e também fomentando a organização de novas estruturas logísticas para o escoamento de grãos. A soja, conforme demonstra Aguiar (2021), teve uma expansão na região Norte e Nordeste centrada principalmente na extensão da área plantada. Portanto, no avanço da ocupação territorial com áreas de plantio, chegando a representar, juntamente com o milho, 90% da safra de grãos colhida em 2020 no Brasil (Aguiar, 2021).
Acompanham a expansão da exploração agrícola e mineral, a necessidade de reorganizar as rotas de escoamento. Com o avanço da soja, o escoamento pelos portos do Arco Norte “cresceu aceleradamente, de cerca de 1/4 em 2010 para quase metade do total em 2020”. No Porto do Itaqui, em São Luís, o transporte da soja compartilha a estrutura da EFC com o minério de ferro. “Parte da soja chega ao porto via a Ferrovia Norte-Sul e a partir de Açailândia (MA) usa direito de passagem na Ferrovia Carajás, ambas sob controle da VLI Multimodal S.A.” (Aguiar, 2021).
Nesse cenário de expansão de projetos extrativos e da infraestrutura e logística, agroestratégias tensionam os processos de reconhecimento e de regularização fundiária dos territórios quilombolas. Conforme Almeida e Marin (2010), produzem uma equação em que a afirmação de projetos de exploração é operada na medida da desterritorialização de povos e comunidades e da desqualificação de seus pleitos. No processo de expansão da logística que envolve a ampliação do Corredor Carajás –rodovias, ferrovias e portos – operam estratégias difusas e complementares, das quais evidenciamos: a) o discurso desenvolvimentista nas projeções do estado como projeto universal e destino para todos, produzindo uma super-representatividade das propostas; b) a cisão de espaços e a afirmação de um bem maior, o bem público, que permitiria a relativização de direitos aos quilombolas; c) o fechamento de recinto para uma pluralidade de vozes, em prol de classificações dos quilombolas e de suas ações.
Dispositivos políticos produzem suporte para o avanço das obras sobre territórios quilombolas no Maranhão atuando na relativização de direitos territoriais, produzindo um deslocamento desses grupos da condição de sujeitos de direitos ao de populações passíveis de serem deslocadas e cederem seus espaços, quase sempre para obras inscritas como “públicas” ou de “interesse público”. A negação da existência territorial quilombola nos marcos da proteção jurídica dos territórios, mesmo com direitos territoriais reconhecidos, se inscreve então em dispositivos de poder que se assentam em estruturas da colonialidade, que permitem diferenciar o que deve ser protegido, escutado, respeitado, daquilo que pode ser pormenorizado. Os dispositivos firmam uma série de hierarquias ao informar o lugar natural das coisas, “as vocações”, “as necessidades” para a população e para o estado do Maranhão e, com isso, apresentam os desejos de inscrever os “destinos” de terras e regiões, de povos e comunidades, na certa ordem evolutiva da história.
Logística, desenvolvimento e emprego
A duplicação da Estrada de Ferro Carajás e da Rodovia Federal Br-135 e a expansão portuária em São Luís estão vinculadas à racionalização da logística de escoamento de commodities agrícolas e minerais para mercados internacionais, permitindo fluxo das mercadorias do interior do país pelo Corredor Carajás até a embarcação no litoral de São Luís e fazendo outras conexões. São três vias ferroviárias que se conectam com a região portuária de São Luís: a Ferrovia Transnordestina e as duas linhas férreas da Estrada de Ferro Carajás (EFC). A EFC também possui uma ligação com a Ferrovia Norte-Sul, que cruza cinco estados brasileiros e liga o Porto de Santos (SP) ao Porto do Itaqui (MA), formando o Corredor Centro-Norte. A bacia de São Marcos, transformada em região portuária em São Luís, comporta o Porto Público do Itaqui e os terminais de uso privado da Alumar e da Vale S.A., e tem iniciada a implantação do Porto São Luís e a projeção de um novo porto em Alcântara, o Porto do Cajual.
Ted Lago, diretor da Emap (Empresa Maranhense de Administração Portuária), no evento Diálogos Capitais, do Consórcio Nordeste – Infraestrutura e Logística, promovido pela revista Carta Capital, em São Luís, em 2021, alertava sobre a importância destas estruturas para o Maranhão: “estamos aqui com dois parceiros importantes, as rodovias e as ferrovias, porque sem elas não somos nada”.[10] Na agenda desenvolvimentista brasileira, o Maranhão assume importância com a reorganização socioespacial em curso, que liga a região portuária por meio de ferrovias e rodovias à nova fronteira agrícola, e a intensificação da extração mineral. É nesse sentido que Carlos Brandão, atual governador do Maranhão e, na época do evento Diálogos Capitais, vice-governador no governo Flávio Dino, entendia como “dever de casa”, a organização de mão de obra especializada para dar suporte no estado às possibilidades de avanço de empreendimentos que potencializassem a “localização geográfica diferenciada” do Maranhão, o fato do estado estar “mais próximo da Europa, dos Estados Unidos, dos grandes mercados consumidores, se a gente utilizar o canal do Panamá, mais perto da Ásia, que é o grande centro consumidor do mundo”.[11]
A vantagem estratégica da localização geográfica, como lugar de passagem para grãos e minérios, também foi enfatizada pelo ministro de Infraestrutura e Transporte, em 2021, que assinalava a importância da duplicação da BR-135 para a nova fronteira agrícola, para o “desenvolvimento do estado” e para o acesso à Ferrovia Norte-Sul.[12] A ampliação de rodovias na sua relação com a expansão portuária, em São Luís, é mencionada na página do governo federal: “a sua localização, próxima dos mercados da Europa, América do Norte e do canal do Panamá, por onde é possível alcançar mais rapidamente os países da Ásia”.[13]
As projeções de novos investimentos aparecem ainda como “compromissos” e motivos de comemoração:
Um mês muito especial para o Porto do Itaqui. Tivemos três grandes inaugurações: o terminal de combustível da Raízen; o Berço 99, feito pela Suzano; e agora o investimento da Granel Química, com mais seis tanques de combustível. Não tenho dúvida de que novos investimentos virão. Tem o Porto São Luís, o Porto de Alcântara, que está sendo projetado. O Maranhão vai crescer, se desenvolver, muito em função de sua logística.[14]
Em julho de 2024, na “missão” realizada pelo governador do estado no canal do Panamá, juntamente com o presidente da Emap, foi destacado o lugar privilegiado do Maranhão com “o maior porto público do Norte-Nordeste, e o quarto maior do país em movimentação de cargas”[15] e os objetivos de captação de investimentos para ampliação das capacidades. A notícia da viagem de Brandão ao canal do Panamá, publicada pela Mirante,[16] em 10 de julho de 2024, destaca o diferencial da “conectividade” da logística do porto com as “três ferrovias (Norte-Sul, Transnordestina e Carajás) e rodovias” para a eficiência e oportunidades de negócios diante do mercado global.
A projeção da região como um vantajoso corredor de escoamento de produtos para o mercado exterior soma-se à possibilidade das obras e investimentos como geradores de empregos, renda, superação de situações de crise econômica. No cenário ideal de crescimento, geração de empregos, investimentos, aproveitamento das “vocações naturais”, as situações conflitivas geradas com as comunidades tradicionais e as questões ambientais que acompanham a expansão logística desaparecem formando recintos particulares de composição de projetos de governo.
De estradas e portos para o agronegócio e a mineração à proteção do ‘interesse público’
O “vazio social” projetado sobre as terras de pretos quando da implantação de uma série de estruturas logísticas no estado, entre as décadas de 1970-1980, não se sustenta facilmente após as lutas negras por direitos territoriais e pela operacionalização dos preceitos constitucionais aos quilombolas. Apesar dos limites das representações territoriais quilombolas em recintos oficiais, reivindicar a condição de sujeitos que podem reclamar direitos territoriais, produz uma série de tensões. Quando as tensões são expostas, os discursos em torno da representação das obras logísticas precisam ser filtrados. Então, de um projeto específico de desenvolvimento ligado a setores econômicos e políticos como o agronegócio e a mineração. passa a ser acionado o interesse público destas obras como forma de proteção social da população.
Numa reunião realizada por meio virtual em 2020, um pequeno grupo de aliados técnicos avisaram a algumas lideranças da região que restavam apenas “os corpos” para o enfrentamento. Os caminhos jurídicos pareciam esgotados e, portanto, as possibilidades de uma saída na justiça contra o avanço indevido das obras eram inviáveis. Mais uma vez, seriam os corpos negros que precisariam ser colocados na linha de frente contra a expansão de um empreendimento sobre suas terras. “É preciso se organizar!”. Se organizar faz parte da trajetória da liderança Anacleta, do quilombo Santa Rosa dos Pretos,[17] que viveu o “tempo maior da grilagem” no Maranhão. No entanto, mesmo carregando as marcas e as experiências de todos os enfrentamentos, foi inevitável a perplexidade diante da possibilidade do avanço da obra ocorrer no contexto da pandemia da Covid-19, fortalecendo a face do que chama de “escravidão silenciada”,[18] a forma como essas “moléstias” são vivenciadas pelos negros nessa região com os ataques que não param de chegar.
Anacleta já havia se colocado na frente da escavadeira, juntamente com outras lideranças, em 2017, para barrar a máquina que iniciava uma escavação sobre as terras quilombolas para a duplicação da BR-135. Após esse episódio, ocorreram mobilizações de territórios quilombolas na região nos anos de 2018 e 2019 que colocaram na cena pública uma série de questionamentos, ensejaram reuniões na DPU, representantes do Dnit tiveram que se sentar algumas vezes, foram provocadas reuniões no MPF, por fim, a obra foi institucionalmente paralisada após as mobilizações.
Como nessa situação vivenciada em Santa Rosa dos Pretos, nos quilombos da região, na maior parte das vezes, as obras ligadas aos empreendimentos públicos e privados iniciam sem chamadas, sem avisos, “vão entrando”, abrindo o espaço e ocupando. Em 2019, Seu Tinoco, liderança do território de Santa Maria dos Pinheiros, em Itapecuru Mirim, avistou uma área sendo desmatada dentro do quilombo, na continuação das torres dos linhões de energia que atravessaram o território há mais de uma década. Tratava-se da “limpeza” do lugar para a instalação de mais um linhão, sem comunicação, sem mitigação. As famílias do território nunca receberam nada pela passagem dos linhões em suas terras, em suas roças, nos igarapés, nem mesmo foram contempladas com a energia elétrica, que chegou muito depois e apenas com programas específicos de eletrificação rural do governo federal.
A dor sentida por Anacleta na reunião vem da reflexão apurada da necessidade de concentrar energia vital mais uma vez na luta pela permanência naquela terra diante do conhecimento da Decisão Interlocutória proferida em 8 de junho de 2020, no curso da Ação Judicial movida pelo MPF contra o Dnit – Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes e o estado do Maranhão. A decisão autorizou o reinício das obras da BR-135 no “subtrecho” de 18 quilômetros entre os municípios de Bacabeira e de Santa Rita. A liderança sabe muito bem que “a obra é uma só” e mais do que isso, que um mesmo “igarapé corta Santa Rosa e Cariongo”. A estratégia de dividir trechos e subtrechos é para “comer pelas beiradas”, estrangular a resistência, desarticulá-la.
No curso da Ação Judicial, representações de associações quilombolas que participaram das reuniões de 2017 e que vinham pleiteando direitos negados no processo de licenciamento pelo Dnit, por meio da Defensoria Pública da União, alegaram principalmente as dificuldades e os perigos da retomada das obras no contexto de pandemia da Covid-19 e na necessidade de cumprir ritos que estavam sendo desrespeitados no âmbito administrativo. Foram apontados: a existência de territórios quilombolas, que nunca foram consultados sobre o empreendimento, como prevê a Convenção no 169 da OIT, e que já sofrem com a passagem de outros empreendimentos; a precariedade dos estudos realizados no âmbito do licenciamento ambiental (com fotos que não correspondiam aos quilombos da região, outras retiradas de documentos de terceiros conhecidos pelas lideranças) e a necessidade de novos estudos; a não realização de audiências públicas; a contestação à exigência, por parte do Dnit, de considerar atingidas apenas as comunidades quilombolas que estão no raio de 10 quilômetros do empreendimento, desconsiderando os 40 quilômetros, conforme regulamentado para rodovias na área de abrangência da Amazônia Legal.
A decisão judicial anunciada na reunião virtual permitia o prosseguimento das obras no trecho entre Bacabeira e Santa Rita. A “pressa” de execução da obra, no contexto de pandemia da Covid-19 , foi justificada em virtude do perigo de devolução de recursos públicos, destinados à obra, para a União. O risco de perder recursos é associado ao fato de que os trabalhos a serem executados na duplicação do trecho não desconsiderariam “a observância das regras e diretrizes das autoridades sanitárias, com o fim de garantir a segurança e saúde das pessoas impactadas”. Momento em que o “interesse público” é acionado na controvérsia constituída no recinto jurídico em contraposição aos direitos das comunidades quilombolas.
A controvérsia concreta estabelecida a respeito da retomada da obra, no trecho específico de 18 km entre os municípios de Bacabeira e Santa Rita, revela nítida hipótese de colisão entre o direito fundamental à consulta livre, prévia e informada das comunidades tradicionais potencialmente afetadas pelo empreendimento e o interesse público no efetivo prosseguimento da obra de infraestrutura, no trecho específico indicado pelo primeiro corréu (Dnit), de 18 km, em cujo raio de 10 km para realização da consulta e elaboração do estudo do componente quilombola se encontram quatro comunidades tradicionais. (Santana [Rosário], Santa Rita do Vale, Nossa Senhora da Conceição [Recurso] e Ilha das Pedras, grifo nosso)[19]
O interesse público aparece relacionado ao “direito fundamental de ir e vir” das pessoas e a segurança que o Estado deve garantir à população. A possibilidade se abre pela proteção da população, como mencionado na decisão em letras destacadas.
O interesse público relativo à retomada imediata da obra – de forma que não haja a perda de vultosos recursos públicos para sua realização – deve ser compreendido como um interesse público primário, assim entendido – NESTE CASO CONCRETO – AQUELE VOLTADO À REALIZAÇÃO DAS FINALIDADES PRECÍPUAS DO ESTADO, COMO A GARANTIA DE EXISTÊNCIA DE UMA RODOVIA COM CONDIÇÕES ADEQUADAS DE INFRAESTRUTURA E, PORTANTO, SEGURANÇA PARA O TRÁFEGO DE VEÍCULOS E PESSOAS, a fim de possibilitar o adequado exercício do direito fundamental de ir e vir, com a redução dos notórios e evidentes riscos à incolumidade física [...] considerado um dos mais perigosos do estado – integra uma rodovia já existente há décadas, e que constitui o único acesso à ilha de Upaon Açu [...].[20]
A proteção requerida aos quilombolas é tensionada com a proteção do “interesse público”, bem como o “interesse social”, apresentados como interesses maiores que a afirmação territorial dos grupos negros em diversas instâncias, como no âmbito jurídico. Esses interesses maiores dos empreendimentos são acionados na produção da legitimidade da obra, jogando com a fraca possibilidade de representação destes coletivos a partir de processos de silenciamento.
Mesmo que a produção da ausência (o vazio social) não possa mais ser condição para a passagem de empreendimentos, o silenciamento e o apagamento da realidade histórica dos territórios quilombolas no estado, permanecem como dinâmicas centrais desse processo. Rafael, advogado da CPT que acompanha situações de conflito envolvendo a duplicação da BR-135 destaca:
Esse distanciamento, essa estratégia de distanciamento, ela silencia por exemplo uma coisa fundamental que quando se vai ou se vive no quilombo se sabe, que é o seguinte: os quilombolas quando a rodovia foi construída nos anos 50 elas já estavam a gerações lá, seu Libânio pai de dona Anacleta fala que viu a obra chegando... são vidas anteriores, é uma história anterior que ela atravessa, então essa faixa de domínio se sobrepõe ao território tradicional, ela atravessa, ela invade a vida quilombola... pode se apresentar a justificativa... o processo... a ilha... mas a questão é que é uma realidade que essas comunidades foram atravessadas... portanto elas não podem ser invasoras do que as invadiu... mas isso é colocado no processo, o silenciamento das vozes quilombolas, silencia essa realidade histórica.[21]
O silenciamento de vozes das comunidades em instâncias importantes de decisão compactua com a “associação entre o neoextrativismo e a derrubada das fronteiras da democracia”, em que as obras se expandem controlando decisões coletivas, operando “sem consentimento social, sem consulta à população, sem controle ambiental e com escassa presença do estado, ou mesmo com ela” e com “aumento da violência estatal e paraestatal” (Svampa, 2019, p. 32). Nestes recintos, com os conflitos mediados a partir de um discurso de proteção da população que produz silenciamentos, a expansão logística é projetada sobre territórios tradicionais e quilombolas como caminho inquestionável de mão única.[22]
‘Comendo pelas beiradas’: processos que nunca são processos
O avanço das obras de duplicação da BR-135 assume uma configuração específica, dificilmente discutida nos recintos e pelos representantes de órgãos públicos envolvidos em reuniões, talvez mencionado em algum documento de denúncia das comunidades, transposta em alguma peça técnica, ou discutida nos corredores. Uma série de acontecimentos modificam a estrada, como sua ampliação ou alteração em pontos específicos dos territórios negros ou em áreas contíguas que exigem mudanças na vida quilombola. Algumas obras da duplicação avançam de um lado e de outro dos territórios, em espaços onde existem fazendas não desapropriadas ou desapossadas, muitos reconhecidos como territórios, mas não delimitados nem em posse das famílias negras. Produzindo uma transformação socioterritorial em que o “mundo quilombola” é levado a recuar. São situações em que vão “comendo pelas beiradas”, como mencionam lideranças a partir das experiências, ou seja, “avançando” em lugares “menos conflitivos” até produzirem uma situação em que não tenha mais sentido “não terminar” o que está já em andamento. Situação possível porque a titulação dos territórios quilombolas se arrasta nas instituições públicas. Porque a proteção é precária. As obras avançam até restar “apenas” os lugares “mais difíceis” ou onde “não dá para conversar”.
Em 10 de outubro de 2023, a BR-135 foi interrompida próximo ao quilômetro 88 por famílias de Santa Rosa dos Pretos com madeiras, pneus e fogo, num dos trechos em que atravessa suas terras. As famílias protestavam contra a retirada dos quebra-molas que freavam os carros e facilitavam o trânsito das famílias no território entrecortado pela estrada. Numa das “arrumações” da rodovia realizada pelo Exército a serviço do Dnit, os quebra-molas foram retirados e nenhum tipo de barreira para diminuir a velocidade foi colocada no lugar, fazendo com que atravessar a rodovia para frequentar a escola, ir à igreja do Divino, jogar futebol se tornassem um perigo ainda maior do que o já enfrentado. O bloqueio deu origem a uma reunião na sede da Polícia Rodoviária Federal na cidade de São Luís no mesmo dia. Bloqueios e reuniões estão relacionados há bastante tempo na região à possibilidade de fala e negociação. Encontraram-se às 14 horas numa sala da PRF: representantes do quilombo (trazidos no carro da Polícia Rodoviária Federal de Itapecuru Mirim a São Luís), da PRF, do Dnit, da CPT e do GEDMMA-UFMA.
Na mesa de discussões instalada, duas questões primordiais foram colocadas pelos quilombolas, convidados a iniciar as falas. Seu Elias mencionou a presença antiga da comunidade na região, “anterior” à estrada, afirmando assim o direito de serem ouvidos e respeitados. Uma tentativa de estabelecer o lugar de sujeitos de direitos dos quilombolas e não mais o de “invasores” que ainda pontuam documentos recentes. A obra também é denunciada em sua pretensão universal, seria um estabelecimento específico (com finalidades) que não podem ser consideradas “maiores” que os direitos quilombolas.
Uma coisa que o Dnit tem que entender é que quando o Dnit passou na nossa comunidade nós já estávamos lá... não foi nós que invadimos a área do Dnit, o Dnit cortou a nossa comunidade, a comunidade é nossa, a terra é nossa, é bom a BR estar lá... é uma via de acesso, agora ninguém diz para nós que o interesse maior aí é o agronegócio... hoje você confere um carro pequeno e cinquenta carretas.. confere dois ônibus e cem carretas... tudo vem para cá... o porto em São Luís...
Nós também não vamos sair assim não, não vamos ser expulsos de nossa área e nem deixar que acabe o nosso território pelo interesse maior, o interesse do Estado... o estado que se vire da maior forma possível e que arranje outro meio de passar as coisas dele... no nosso território tem que ser também do nosso jeito, porque senão não dá certo... o nosso acordo aqui são as lombadas... se as lombadas voltarem... nós não vamos interditar... (transcrição da reunião, fala do Sr. Elias)
Outra questão levada para a discussão pelos quilombolas foi a necessidade de priorizar a “vida”. Não estavam ali para pedir “um favor”, dizia Dona Maria, mas para exigir o direito a “nossas vidas”. As lombadas e os quebra-molas eram parte de um acordo anterior, quando uma Hilux atropelou uma menina no acostamento.
Nós não estamos aqui pedindo favor, nós estamos aqui reivindicando as nossas vidas. Nós somos vida, nós moramos é ali.... nós queremos pelo amor de Deus pressa. Ele só tinha uma filha, a Hilux pegou ela no acostamento [...]. Aí botaram uma barreira eletrônica ... Agora nós não temos nada... A maior maravilha do mundo [para eles], e para nós só tristeza. (Transcrição da reunião, fala de Dona Maria)
Se depois de décadas de desconsideração e violência, de ausência em registros públicos, é possível sentar numa mesa e exigir a consideração de seus direitos territoriais perante a um empreendimento, novas formas de relativização ainda são acionadas. “Ouvir, mas não escutar”, garante a impossibilidade do diálogo. As impossibilidades de que a exigência dos quilombolas ressoe nas arenas públicas diante de consensos, é fortemente enunciada também no blog Consulta Prévia pela jovem liderança quilombola Zica Pires, depois de sair de uma reunião de discussão da Duplicação da BR-135 no MPF em 2019: “Quando uma pessoa quilombola faz um apelo ancestral – pare de me matar! –, é possível ouvir esse apelo de qualquer lugar, porque se trata de um grito infinito. Mas escutar esse grito não é pra todo mundo. Se fosse, já teriam parado de nos matar há séculos.” Ouvir, segundo a jovem quilombola, não é apenas captar o som, “mas se abrir ao seu significado”.[23]
Se a tradução de demandas para alguns recintos a partir de mediadores sociais se constitui num problema; se o silenciamento se compõe como regra do processo; numas das raras situações em que os quilombolas se sentaram na mesa com o Dnit, exige-se que os quilombolas “conversem”. “Conversar” aparece quase como sinônimo de que os quilombolas devem “entender” a duplicação e antônimo de agir bruscamente, como bloquear a passagem. Entender que se trata de algo “maior” e voltar ao seu lugar, parece a medida exigida.
Aquela rodovia não aguenta mais... [...] nós estamos há pelo menos quatro anos tentando dialogar com a comunidade – Dnit e comunidade. [...] eu entendo o que Elias falou... ‘eu já estava lá antes da rodovia’... certo, só que a rodovia está lá agora! E a gente precisa resolver essa situação por conta exatamente do que tu falou agora... eu ando nessa rodovia e não ficou só na superintendência... e vejo exatamente o que você falou, o trânsito de veículos é gigante e nós estamos tentando desde 2017 duplicar a rodovia... vai duplicar o problema, não sabemos... eu tenho certeza de que não... nós vamos amezinhar o problema. [...] Nós temos contratado por decisão judicial, desde 2019, vai fazer 3 anos, para uma empresa fazer exatamente esses estudos e definir a necessidade das comunidades, não é só Santa Rosa, é Cariongo, Fé em Deus... [...] A empresa não consegue, ela chega em Santa Rosa para fazer qualquer tipo de consulta ou qualquer tido de trabalho, ela é abordada, ela é solicitada que envie um e-mail informado o que vai fazer... para aguardar autorização, a gente aguarda autorização e ela não vem. [...] Então assim, é necessário que a gente se comprometa a resolver o problema [...] quem sofre realmente é quem ta lá... [...] Os carros não vão deixar de passar, porque não tem outro caminho, aqui infelizmente no MA só tem um caminho para chegar a capital... [...] É preciso dialogar, eu digo sinceramente, o Dnit tem tentado demais. [...] A gente não consegue avançar. (Transcrição da reunião, fala do representante do Dnit)
As vozes que problematizam, se opõem e portam outros entendimentos, principalmente, que emergem de povos e comunidades tradicionais, quando não estão completamente ausentes de determinados espaços, são geralmente inaudíveis ao dividirem as salas. O silenciamento ou a desqualificação de uma pluralidade de vozes que ecoam em distintos espaços, mas não são ouvidas, talvez seja a estratégia mais eficaz das estruturas da colonialidade que operam na justificação dos projetos desenvolvimentistas e estejam fortemente enraizadas no presente colonial de desqualificação de pessoas, projetos e lugares.
Considerações finais
A extensa territorialidade negra da região de Itapecuru Mirim, constituída nos séculos XVIII e XIX, passou a ser atravessada e ameaçada por um Corredor Logístico de transporte de commodities agrícolas e minerais para exportação, a partir da década de 1950. A perspectiva desenvolvimentista (Escobar, 1996; Esteva, 2000), como um importante dispositivo de poder colonialista, produz a percepção do avanço de empreendimentos de exploração como melhor destino para região, sem instalar o debate. Num cenário consensual a respeito da importância das atividades econômicas, a reivindicação de direitos territoriais específicos das comunidades negras é constantemente desconsiderada ou relativizada.
A rodovia avança em discursos, nas obras e nas decisões políticas e judiciais, silenciando e invisibilizando as territorialidades negras. A duplicação da rodovia nesta região, e anos antes da ferrovia, é operada com a colocação de placas em árvores (indicando que vai ser cortada), nos canteiros de obras, na retirada de quebra-molas, na chegada de funcionários solicitando assinaturas em papéis, na chegada de novos fazendeiros, no entupimento de igarapés, na retirada de casas. A existência no mundo de papel, a visibilidade institucional que a questão quilombola ganhou a partir das lutas negras, não se traduz facilmente em proteção do Estado no chão do território, quando envolve empreendimentos ligados à exportação de commodities, principalmente, com o avanço da fronteira da soja. E não parece permitir um alargamento da arena pública, uma distância dificilmente transponível permanece, continua a ser alimentada, entre o lugar dos acontecimentos e a representação no mundo dos papéis.
O universo do conflito envolvendo grandes empreendimentos, como estruturas construídas em “nome do progresso” sobre povos, não possibilita a afirmação de nenhum compromisso com os grupos. É possível pensar o reconhecimento da territorialidade quilombola, amparada pelo Direito brasileiro após 1988, como uma afirmação jurídica que permite claramente uma mudança nas concepções de apropriação territorial envolvendo grupos negros no Brasil. No entanto, como problematizam Gomes e Cunha (2007), para o contexto da libertação dos escravos no final do século XIX, possivelmente a lógica dessa mudança “esteja muito mais próxima da conquista, do convencimento e da contínua produção de interpretações outras, por meio das quais a crença no estatuto jurídico igualitário seja possível” (no caso, do reconhecimento da forma específica de apropriação territorial e de produção da vida seja possível), e ainda complementaríamos, das muitas lutas.
Desde 2017, lideranças de comunidades quilombolas de Itapecuru Mirim, Santa Rita, Anajatuba e Miranda questionam e denunciam fortemente o projeto de duplicação da Rodovia BR-135 no Maranhão, pelas irregularidades cometidas nos processos de licenciamento e pela própria finalidade das obras. A rodovia construída na década de 1940 é um importante caminho “por terra” a ligar o interior do estado à ilha de São Luís e está no cerne de uma série de transformações que marcam o lugar. Segundo Libânio Pires, a estrada amparou a chegada das fazendas, o carregamento dos trilhos para a construção das ferrovias Carajás, os linhões de energia, ou seja, todas as “mazelas” que acompanharam os projetos desenvolvimentistas instalados e que estão no cerne da perda de terras, dos problemas ambientais, de conflitos envolvendo a expansão de empreendimentos e os territórios negros.
A estrada se constitui menos em “caminho” para os quilombolas e mais em realidade da pressão por transformações que sofrem os territórios negros, vivenciada desde os primeiros picos e com conotações dramáticas mais recentemente, quando começa a ser duplicada. Na live realizada com mulheres quilombolas pelo Instituto de Assessoria as Comunidades Remanescentes de Quilombo (Iacoreq), Anacleta Pires falou que a pandemia da Covid-19 precisava trazer uma face de alerta, que apenas a abertura do espaço público às vozes que constantemente se perdem no ruído estrondoso poderia provocar: “A gente ouve as pessoas às vezes dizendo o mundo parou, o mundo não parou, o mundo silenciou... Se você não faz silêncio no espaço vivido, você não vai conseguir ouvir o que estão falando para você, seja o humano, seja o papel, seja a nossa natureza...”.[24] Marras (2021) também coloca uma questão que se agrega à provocação de Dona Ana quando pergunta pelas “motivações dessa surdez tão generalizada que impede ouvir as vozes ditas naturais” (Marras, 2021, p. 39). Ouvindo atentamente este chamado para a escuta, é possível pensar que a constante produção de consensos em torno da soja e das logísticas e os silenciamentos provocados pelas lutas dos quilombolas talvez seja a chave para pensar a colonialidade persistente O barulho das obras continua projetando um “futuro” único e ensurdecendo os lugares, que vozes quilombolas não cansam de denunciar e apontar as arbitrariedades.
Referências
AGUIAR, Diana. Dossiê crítico da logística da soja: em defesa de alternativas à cadeia monocultural. Rio de Janeiro: FASE, 2021.
ALMEIDA, Alfredo Wagner Berno de. Carajás, a guerra dos mapas: repertório de fontes documentais e comentários para apoiar a leitura do mapa temático do Seminário-Consulta “Carajás: desenvolvimento ou destruição?”, 1993.
ALMEIDA, Alfredo Wagner Berno de. Terra de quilombo, terras indígenas, “babaçuais livre”, “castanhais do povo”, faixinais e fundos de pasto: terras tradicionalmente ocupadas. Manaus: PGSCA-UFMA, 2008.
ALMEIDA, Alfredo Wagner Berno de. Terras de preto, terras de santo, terras de índio: uso comum e conflito. In: DELGADO, Nelson Giordano (Coord.). Brasil rural em debate: coletânea de artigos. Brasília: Condraf/MDA, 2010. p. 104-136.
ALMEIDA, Alfredo Wagner Berno de; SÁ MOURÃO, Laís. Questões agrárias no Maranhão Contemporâneo. Manaus: UEA Edições, 2017.
ALMEIDA, Alfredo Wagner Berno de; MARIN, Rosa Acevedo. Campanhas de desterritorialização na Amazônia: o agronegócio e a reestruturação do mercado de terras. In: BOLLE, Willi; CASTRO, Edna; VEJMELKA, Marcel (Orgs.). Amazônia: região universal e teatro do mundo. São Paulo: Globo, 2010.
ASSELIN, Victor. Corrupção e violência em terras do Carajás. Imperatriz: Ética, 2009.
CPT – Comissão Pastoral da Terra. Conflitos de Terra no Brasil – Comissão Pastoral da Terra, 1985. [S.l.]: CPT, 1985. Disponível em: https://www.cptnacional.org.br/ downlods? task=download.send&id=266&catid=41&m=0. Acesso em: 2 jan. 2024.
DE LA CADENA, Marisol. Cosmopolítica indígena nos Andes: reflexões conceituais para além da “política”. Maloca Revista de Estudos Indígenas, Campinas, v. 2, p. e019011, 2020.
GISTELINCK, Frans. Carajás usinas e favelas. São Luís: Gráfica Minerva, 1988.
ESCOBAR, Arturo. La invención del tercer mundo: construcción y desconstrucción del desarollo. Barcelona: Grupo Editorial Norma, 1996.
ESTEVA, Gustavo. Desenvolvimento. In: SACHS, Wolfgang (Ed.). Dicionário do Desenvolvimento: guia para o conhecimento como poder. Tradução de Vera Lúcia Joscelyne, Susana de Gyalokay e Jaime Clasen. Petrópolis: Vozes, 2000. p. 59-83.
GOMES, Flávio dos Santos; CUNHA, Olivia Maria Gomes da. Quase cidadão – histórias e antropologias da pós-emancipação no Brasil. Rio de Janeiro: FGV, 2007.
HAESBAERT, Rogério. Território e descolonialidade: sobre o giro (multi) territorial/de(s)colonial na América Latina. Buenos Aires: Clacso; Niterói: UFF, 2021.
IBASE – Instituto Brasileiro de Análises Sociais e Econômicas. Carajás: o Brasil hipoteca seu futuro. [S./l].: Ibase, 1982.
LANDER, Edgardo. Ciências sociais: saberes coloniais e eurocêntricos. En libro: A colonialidade do saber: eurocentrismo e ciências sociais. Perspectivas latinoamericanas. In: LANDER, Edgardo (Org.). Colección Sur Sur. Buenos Aires: Clacso, 2005. p. 21-53.
MARRAS, Stelio. O Vozeria da pós-verdade e suas ameaças civilizacionais. In: MARRAS, Stelio et al. Vozes Vegetais: diversidade, resistências e histórias da floresta. São Paulo: Ubu, 2021.
O’DWYER, Eliane Cantarino. Uma nova forma de fazer história: os direitos às terras de quilombo diante do projeto modernizador de construção da Nação. In: OLIVEIRA, Oswaldo Martins (Org.). Direitos quilombolas & dever de Estado em 25 anos da Constituição Federal de 1988. Rio de Janeiro: ABA, 2016. p. 257-274
OVIEDO, Antônio; LIMA, P. Willian; SOUZA, Francisco das Chagas. As pressões ambientais nos territórios quilombolas no Brasil. [S.l.]: Instituto Socioambiental; Conaq, 2024. Disponível em: https://www.socioambiental.org/noticias-socioambientais/mais-de-98-dos-territorios-quilombolas-no-brasil-estao-ameacados. Acesso em: 10 jul. 2024.
POMPEIA, Caio. ‘Agro é tudo’: simulações no aparato de legitimação do agronegócio. Revista Horizontes Antropológicos, Porto Alegre, ano 26, n. 56, p. 195-224, 2020.
PORTO-GONÇALVES, Carlos Walter. Apresentação da edição em português. In: LANDER, Edgardo (Org.). A colonialidade do saber: eurocentrismo e ciências sociais. Perspectivas latinoamericanas. Buenos Aires: CLACSO, 2005. p. 3-5.
PROJETO VIDA DE NEGRO. Vida de Negro no Maranhão: uma experiência de luta, organização e resistência nos Territórios Quilombolas. Coleção Negro Cosme, v. IV. São Luís: SMDH/CCN-MA/PVN, 2005.
PROJETO VIDA DE NEGRO. Terras de Preto no Maranhão: quebrando o mito do isolamento (Levantamento Preliminar em 1988/1989 da situação atual das chamadas ‘Terras de Preto’ localizadas no estado do Maranhão.) Coleção Negro Cosme, v. III. São Luís: SMDH/CCN-MA/PVN, 2002.
QUIJANO, Aníbal. Colonialidade do poder e classificação social. In: SANTOS, Boaventura de Sousa; MENESES, Manuel de (Eds.). Epistemologias do Sul. São Paulo: Cortez, 2010.
SÁ, Laís Mourão. O pão da terra: propriedade comunal e campesinato livre na Baixada Ocidental Maranhense. São Luís: Edufma, 2007.
SANT’ANA JÚNIOR, Horácio Antunes de. Complexo Portuário, Reserva Extrativista e Desenvolvimento no Maranhão. Caderno CRH, Salvador, v. 29. n. 77, p. 281-294, 2016.
SANT’ANA JÚNIOR, Horácio Antunes de; PEREIRA, Carla Regina Assunção; ALVES, Elio de Jesus Pantoja. Projetos de desenvolvimento e conflitos socioambientais no Maranhão. Teoria e Sociedade, Belo Horizonte, p. 94-113, 2010.
SVAMPA, Maristella. As fronteiras do neoextrativismo na América Latina: conflitos socioambientais, giro ecoterritorial e novas dependências. São Paulo: Elefante, 2019.
SVAMPA, Maristella. Consenso de los commodities, giro ecoterritorial y pensamiento crítico en América Latina. In: Movimientos socioambientales en América Latina, n. 32. [S./l.]: Clacso, 2012.
Como citar
BRUSTOLIN, Cíndia. Corredor logístico, expansão de fronteiras coloniais e territorialidades quilombolas no Maranhão. Estudos Sociedade e Agricultura, Rio de Janeiro, v. 32, n. 2, e2432209, 20 dez. 2024. DOI: https://doi.org/10.36920/esa32-2_st05.
|
Creative Commons License. This is an Open Acess article, distributed under the terms of the Creative Commons Attribution License CC BY 4.0 which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium. You must give appropriate credit, provide a link to the license, and indicate if changes were made. |