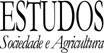
v. 30, n. 2, julho a dezembro de 2022 (publicação contínua), e2230203
Recebido: 18.abr.2022 • Aceito: 31.ago.2022 • Publicado: 6.set.2022
Artigo original /
Revisão por pares cega /
Acesso aberto
Aqui todo mundo é parente:
memória, família e distinção em comunidades camponesas no Norte de Minas Gerais
‘Here everybody
is related’: memory, family and distinction in peasant communities in the north
of Minas Gerais
![]() Roberta Novaes[1]
Roberta Novaes[1]
DOI: https://doi.org/10.36920/esa-v30-2_03
Resumo: Este texto tem como objetivo refletir sobre as marcações distintivas entre famílias em comunidades camponesas no semiárido do Norte de Minas Gerais. Para tanto, são analisadas as histórias de fundação das comunidades contadas pelos descendentes dos fundadores e das fundadoras e por outros moradores. Essas histórias de fundação acionam as memórias das genealogias das famílias. A partir das histórias de fundação das comunidades e da rememoração da descendência, distingue-se diferentes povos, gentes, nação, embora, em uma primeira aproximação, se diga que todo mundo é parente ou que é tudo uma família só. O coração da pesquisa empírica foi um punhado de pequenas comunidades camponesas situadas no Vale do Peruaçu, no Norte de Minas Gerais, em especial no município de Januária. O material empírico foi produzido entre os anos 2013 e 2015. Do ponto de vista metodológico, a pesquisa parcialmente apresentada neste texto consistiu em uma etnografia. Indica-se que as memórias narradas apresentam demarcações entre as gentes do lugar e nos contam sobre a heterogeneidade das condições de reprodução social dessas famílias. No ato de contar são feitas atualizações de um conjunto de elementos que invocam proximidade e distanciamento.
Palavras-chave: memória; família; marcação distintiva; comunidades camponesas; Norte de Minas Gerais.
Abstract: This paper reflects on the distinctive demarcations between families in peasant communities in the semi-arid region of northern Minas Gerais by analyzing the stories of their founding told by the descendants of those who founded and lived in these communities. These stories trigger the memories of family genealogies; even though everyone is initially said to be related or from a single family, different groups, peoples, and even nations can be distinguished from the founding stories of these communities and the remembrances of their descendants. The empirical research focused on a handful of small peasant communities in the Peruaçu Valley in northern Minas Gerais, principally the municipality of Januária, with material produced between 2013 and 2015. In terms of methodology, the research partially presented in this text consisted of an ethnography. The memories described demarcations between the people in the communities, indicating heterogeneous conditions involved in the social reproduction of these families. The act of telling these stories involves updating a set of elements that invoke proximity and distance.
Keywords: memory; family; distinctive demarcation; peasant communities; northern Minas Gerais.
Introdução
Este texto tem como objetivo refletir sobre as marcações distintivas entre famílias em comunidades[2] camponesas no semiárido do Norte de Minas Gerais. Para tanto, analiso as histórias de fundação das comunidades contadas pelos descendentes dos fundadores e das fundadoras e por outros(as) moradores(as).
Essas histórias de fundação acionam as memórias das genealogias (em alguns momentos, imprecisas; em outros momentos, claramente definidas em certas relações) das famílias. Dito de outra maneira, a partir das histórias de fundação das comunidades e da rememoração da descendência, distingue-se diferentes povos, gentes, nação.
A problemática do artigo reside na discussão sobre como aparecem as marcações distintivas entre famílias na modulação das relações entre as pessoas. O que significa ser descendente do coronelismo, do jaguncismo ou do povo dos baianos, naquelas comunidades? Quais os sentidos dessas marcações, embora, a princípio, seja todo mundo parente, como me era afirmado corriqueiramente, por onde eu circulasse naquelas comunidades: é tudo uma família só, é tudo um emboleiro de gente, é tudo primo, sobrinho, comadre, compadre.
Como marcação distintiva eu defino a formulação discursiva que demarca e atualiza as origens familiares diferentes de pessoas e/ou das unidades de residência das comunidades.
A minha experiência no campo e da convivência naquelas comunidades é tocada, em grande medida, pelo trabalho da memória, para usar a expressão de Godoi (1999), das pessoas que por lá viviam, no processo de contar suas trajetórias e as histórias das famílias e dos parentes e das terras e da fundação das comunidades. O sentido de trabalho da memória aqui utilizado, como em Godoi, significa que a memória não equivale à recuperação precisa de fatos do passado; implica o acionamento de narrativas que constroem sentidos no presente. Sentido de quem é ou não da mesma família ou da mesma comunidade, quem chegou primeiro ou chegou por último, quem tem mais ou menos prestígio, quem casa com quem.
Nessas comunidades de Januária e Itacarambi, as pessoas estavam o tempo todo a me falar sobre parentes, colegas, filhos, irmãos, netos, pais, primos, namorados, maridos, esposas, noivos, sobrinhos, cunhados, vizinhos, comadres, compadres, avós. Toda essa gente esteve ou estava pelo mundo, no trecho, tinha saído pra fora[3] naquela ocasião ou em tempos passados. Ao mesmo tempo, falava-se sobre os parentes dali, e que todo mundo é parente; falava-se sobre as comunidades, os fundadores, as histórias dos antigos, o tempo antigo.
Contava-se também sobre a transformação da vida no semiárido a partir de uma dimensão tempo (o tempo antigo era diferente em muitos aspectos), a quentura do clima, a lida com a seca, a falta de água, o assoreamento do rio Peruaçu. Esses elementos relativos aos recursos terra, água e “ambiência climática” constituíam outras ênfases às narrativas sobre parentes, famílias e comunidades; parente que fica porque tem terra, parente que sai porque não tem terra, quem sai porque não tem serviço ou por causa da fraqueza do lugar.[4]
Com frequência me recomendavam que eu procurasse os moradores mais idosos das comunidades para que me contassem as histórias do lugar, como as comunidades se formaram, as famílias que primeiro chegaram, como era viver ali no passado.
Seria bom você falar com seu Fulano, eu ouvia. Seu Fulano, mais velho,[5] saberia me contar algo como as ramificações das famílias que formaram aquelas comunidades. Talvez ainda mais especialmente, seu Fulano saberia me dizer quem era descendente de quem. Teriam as pessoas mais jovens perdido o fio das histórias? Ou talvez nunca tivessem sabido de fato dessas diferenciações entre gentes que acabaram, em alguma medida, mais indistintas, e que tinham virado um emboleiro, uma parentagem só? Por outra perspectiva, ser indicada para conversar com as pessoas mais velhas do lugar pode ter menos a ver com a tentativa de uma precisão de fatos passados e mais com a ideia que entende os mais velhos como referência na prerrogativa do dizer.
Minha experiência nessas comunidades no Norte mineiro foi, portanto, permeada por essas ponderações de quem por lá estava: a experiência de estar ou viver no semiárido mineiro e que tem a ver com uma crise ecológica sentida na região e considerações sobre os parentes e as comunidades.
Assim, contar sobre as memórias do lugar e das histórias de fundação das comunidades e suas gentes é contar também sobre como as marcações entre parentes mais próximos, não parentes e parentes mais distantes modulam aqueles grupos e as implicações dessas marcações, como as escolhas de casamento ou as idas para São Paulo, por meio de uma rede de apoio.
Para efeitos de explicitação dos significados dos termos utilizados, considero ainda ser importante explicar como uso os sentidos de memórias do lugar e histórias. As histórias (como as de fundação da comunidade) se referem aos acontecimentos mais específicos, como as chegadas, partidas, mortes, nascimentos, casamentos. As memórias do lugar são o quadro mais amplo composto pelos acontecimentos específicos e que imprimem conexões de sentidos que materializam as relações sociais e que tem a ver com, por exemplo, senso de pioneirismo (primeiros ocupantes)[6] ou senso diferencial de poder e prestígio.
A pesquisa consistiu em uma etnografia, concebida como análise combinada de esforço conceitual-teórico (PEIRANO, 2014) e dados empíricos construídos com o auxílio da técnica da observação participante (vivência prolongada nas atividades cotidianas dos grupos pesquisados), dos registros em diário de campo (anotação de ocorrências, conversas informais com interlocutores da pesquisa e autorreflexões da pesquisadora imersa naquele contexto sobre o cotidiano vivido) e de entrevistas gravadas a partir de um roteiro de questões previamente estruturado, mas que admitiu novas questões durante a conversa com o entrevistado(a), bem como abdicou de outras elaboradas de início. O material empírico apresentado neste texto foi produzido entre os anos de 2013 e 2015.
Para me referir às famílias fundadoras, me inspiro em um recurso utilizado por Godoi (1999)[7] em sua pesquisa entre camponeses do sertão do Piauí. Represento diferentes linhagens de família por vogais A e B. No caso das famílias do Peruaçu, tratarei por Família A e Família A’, Família B e a família dos Baianos. O coronel ao qual se atribui, como se verá adiante, a origem das Famílias A e A’, será referido apenas como o Coronel,[8] grafado com inicial maiúscula. Famílias fundadoras são aquelas contadas como tendo iniciado o emaranhado de relações entre os moradores daquele lugar.
O material empírico que produzi no trabalho de campo não dispõe de informações relativas a todas as famílias de modo equivalente. Isso espelha o circuito de casas em que circulei prioritariamente. Aqueles que foram, por motivos diversos, meus interlocutores principais foram as Famílias A e A’; e em um segundo plano, a Família B. As casas dessas famílias eram as que eu mais frequentava, as casas em que eu dormia, as pessoas com quem eu mais encontrava. Por isso, eu me situo nesse ponto particular desse universo de relações: da fala e do olhar expressados a partir das famílias A, A’ e B, e é sobretudo a partir desse lugar que a análise será privilegiada, mas não exclusiva.
O recorte deste trabalho está centrado nas famílias mencionadas, mas há algumas unidades de residência que envolvem outras relações e famílias e que não aparecem neste texto. As comunidades não se reduzem às famílias e genealogias aqui descritas.
Na seção que se segue, apresento uma caracterização breve da região pesquisada, descrevendo de modo mais geral as comunidades e a disposição espacial entre elas. Nas seções posteriores, faço uma revisão bibliográfica relativa às principais questões teóricas que fundamentam o artigo, e reproduzo e analiso as memórias e histórias das famílias fundadoras das comunidades.
O Norte mineiro, o Peruaçu e suas comunidades
Januária localiza-se no Norte de Minas Gerais, distante cerca de 600 quilômetros da capital mineira, e está à margem esquerda do Médio São Francisco; faz limite com os municípios de Formoso, Chapada Gaúcha, São Francisco, Pedras de Maria da Cruz, Itacarambi, Bonito de Minas, Cônego Marinho e com o estado da Bahia.
A pesquisa por mim desenvolvida se concentrou no Vale do Peruaçu,[9] região entre os municípios de Januária e Itacarambi. A sub-bacia do rio Peruaçu insere-se no curso médio da bacia do Rio São Francisco.[10]
Descrever brevemente a região e seu contexto “hidrogeográfico” se justifica neste texto por ser esse tema central nas falas das pessoas, sobretudo em um certo senso de identificação com aquele lugar.
O “tema” rio Peruaçu acabou também configurando o recorte espacial da pesquisa em virtude da incidência do Projeto Peruaçu, que incluía cerca de 13 comunidades. Esse Projeto era executado pela Cáritas Diocesana de Januária[11] e tinha como alguns de seus objetivos declarados a preservação ambiental do Vale do Peruaçu, a reversão do assoreamento (em alguma medida) do rio Peruaçu e a construção de cisternas para armazenamento de água.
A escolha por circular entre as comunidades do Peruaçu (como no dizer local, com a subtração de “Vale”) se deu por uma facilidade maior de acesso às comunidades, o que ocorreu, em grande medida, por intermédio dos agentes Cáritas.[12] Entre as 13 comunidades, permaneci por mais tempo em Olhos D’Água e no Araçá.
Comunidade era a forma mais comum utilizada pelos sujeitos da pesquisa para se referirem ao conjunto de habitações em proximidade que circunscreviam uma localidade nomeada. Além desse conjunto de habitações, algumas dessas localidades tinham uma escola de Ensino Fundamental 1 e/ou Ensino Fundamental 2. Creio que apenas uma dessas comunidades tinha uma escola de Ensino Médio. Quase todas essas comunidades tinham uma pequena igreja, fosse católica e/ou evangélica, como a Assembleia de Deus.
Outro aspecto importante de ser observado é que tais comunidades estavam em áreas de preservação ambiental ou simplesmente áreas verdes, com a presença de vegetação e rios ou riachos. As estradas que as interligavam eram de terra e situavam-se mais distantes da sede do município. As casas possuíam áreas de cultivo mais ou menos extensas, hortas e pequenos animais como galinhas ou algumas vacas.
O número de ocupantes das unidades de residência (ou casas) das comunidades variava. Em diversas, havia apenas um casal de idosos (pessoas com mais de 60 anos), cujos filhos tinham saído[13] e já não mais viviam com os pais; outras tinham casais mais jovens – com 30 ou 40 anos idade – com filhos adolescentes ou crianças.
Em outras unidades de residência, havia casais de idosos com um filho ou filha adulto vivendo na mesma casa, e já com filho ou filhos bebês ou crianças. Esse filho ou filha adulto poderia ser casado (no sentido de ter uma situação conjugal, ainda que não necessariamente de modo formal, fosse como casamento civil ou religioso) ou solteiro. Não havia casos de homem que fosse pai sem uma situação conjugal estabelecida e que criasse o filho consigo, sem a mãe da criança. Em mais de uma unidade de residência, o contrário se passava: uma jovem mulher sem situação conjugal estabelecida com um filho ou filha pequeno e que vivia com os pais idosos ou mãe idosa.
As casas tinham entre dois e cinco ou seis ocupantes, no caso de famílias formadas por pais mais jovens com filhos adolescentes ou crianças. Vários desses casais mais jovens tinham quatro ou cinco filhos; outros tinham dois ou três. Havia ainda algumas outras composições como casais mais jovens sem filhos em uma casa.
As histórias de saída, dos homens mais velhos e mais jovens, envolviam trabalhos no corte da cana, colheita de café ou outros gêneros de cultivo, construção civil, garimpo, mineração. As histórias de saída das mulheres eram mais comuns entre as mais jovens e envolviam, quase sempre, uma ida para São Paulo[14] e trabalhos em lanchonetes, limpeza de casas ou de escritórios e a busca por escolarização, seja do Ensino Médio ou Superior.
Essa circulação de pessoas das comunidades do Peruaçu ocorria para São Paulo, interior, região metropolitana ou capital, mas também para o Sul de Minas, Brasília, ou para a cidade de Januária.
Essa descrição sobre a composição familiar das unidades de residência e as ocupações mais gerais dessas pessoas é importante para que se compreenda quem são os moradores e moradoras dessas comunidades e um pouco da dinâmica das suas vidas.
As comunidades Araçá, Estiva, Olhos D’Água, Quilombo e Janelão, no Vale do Peruaçu, formavam uma sequência. A agente do posto de saúde de Olhos D’Água e moradora do Araçá informou-me que, de acordo com os registros dos quais dispunha sobre as comunidades atendidas,[15] Olhos D’Água tinha 32 famílias e 100 pessoas; a comunidade Estiva – que se situava entre Olhos D’Água e Araçá – contava cinco famílias e 15 pessoas; no Araçá havia 74 famílias e 198 pessoas; e o Janelão tinha oito famílias e 26 pessoas.[16]
Todas essas comunidades ficavam em Januária. Atravessando o rio Peruaçu, chegava-se a um conjunto de outras comunidades: Vargem Grande, Caraíbas, Caraibinha e os Baianos, que pertenciam ao município de Itacarambi.
Eu conheci dois caminhos por onde se atravessava o rio Peruaçu entre os dois municípios. Um deles era feito partindo-se da comunidade do Araçá, onde se chegava à vila da Vargem Grande, espécie de pequeno centro local, com telefone público, uma grande mercearia, bares e pequenos comércios. Também na vila havia trechos asfaltados, ao contrário das estradas de terra das comunidades ruralizadas.
Do final da comunidade Olhos D’Água, quase chegando à comunidade Quilombo, havia também uma pequena estrada de terra que levava ao outro lado do rio. Ali era a comunidade Vargem Grande. Segundo um morador da vila da Vargem Grande e funcionário da Cáritas, a região que compreendia Vargem Grande (vila e comunidade), Caraíbas, Caraibinha e os Baianos incluía 180 famílias.
Nem sempre eram exatamente as mesmas as formas de denominação e identificação de comunidades por parte de seus moradores e entre os agentes de órgãos públicos diversos, quase sempre relacionados à atuação em questões ambientais e organizações não governamentais executoras de diferentes políticas, como o Projeto Peruaçu. Um exemplo é a comunidade identificada como os Baianos, ou nos Baianos ou o povo dos Baianos. Entre as pessoas moradoras, os Baianos era um conjunto de unidades de residência, que não aparece dessa forma em pelo menos um dos mapas que pude acessar produzidos no âmbito de um dos projetos executados naquelas localidades do Peruaçu e coordenado por uma grande organização que atua pela preservação da natureza.
Cada lugarzinho naquela constelação de comunidades tinha um nome, como me disse uma moradora do Araçá, mas era tudo familiar. Se eu percorresse todas as comunidades, eu veria que era tudo uma família só, tudo misturado, tudo parente, uma parentagem só, um emboleiro:
Aí eu falo assim: Fulano é meu parente. Mas acaba que todo mundo aqui é parente um do outro. Até quem você não conhece, acaba sendo parente. O que não é primo, é sobrinho; o que não é sobrinho, é tio; o que não é tio é cunhado! É comadre! [...] E vai assim, tudo assim! (Moradora do Araçá)
Cabe uma dupla interpretação para aquela última expressão destacada: familiar no sentido de cognação e de aquilo que lhe é bem conhecido. Familiar costuma ser invocado também para caracterizar um ambiente respeitável, conectando família e moralidade. Família e, portanto, aquilo que é familiar é, idealmente, alusivo ao afeto, assim como um dos sentidos do emprego de diminutivo como modo de referimento, como em lugarzinho. Por outro lado, pode-se ser parente e ser alguém que não é conhecido.
Quando passei a frequentar a comunidade Olhos D’Água, não raro perguntavam-me se eu estava hospedada em casa de dona Eugênia, esposa de um finado coronel; a casa dela era, sem dúvida, um lugar de referência na comunidade. Em casa de dona Eugênia acontecia também a política, como me dissera outra moradora em uma ocasião, ao me explicar quem era dona Eugênia. A política, no contexto daquela conversa, referia-se à reunião e almoço com o prefeito, ocasião em que havia fartura (de comida, mas talvez não apenas): biscoito, doce de casca de laranja, bolo, pão de queijo.
Uma das histórias antigas sobre a comunidade me havia sido contada por um morador: as primeiras famílias que tiveram luz elétrica foram somente as famílias dos coronéis. Apenas posteriormente uma prefeita estendeu o acesso à eletricidade a todos, o que teria acontecido em 1987.
Outro morador, contrastando sua origem com aquela das famílias dos coronéis, disse ter vindo de outra comunidade (há muitos anos já vivia ali, desde que se casou, há décadas) e de uma família considerada porqueira por muita gente dali, por ter menos recursos econômicos.
Uma senhora daquelas famílias de coronéis contou que, quando se casou, cerca de 30 anos antes, teve sua escolha de casamento questionada por alguns primos e familiares. Ela se casaria com ele? Havia outros partidos melhores, lhe disseram. Partidos melhores seriam homens com mais prestígio com os quais ela poderia se casar, incluindo seus primos, como era costume no lugar.
Muitas histórias me eram contadas com frequência sobre o tempo antigo, os primeiros moradores e fundadores da comunidade Olhos D’Água e aquelas ao seu redor. Perguntar às pessoas sobre suas vidas e suas trajetórias conduzia quase sempre aos relatos sobre histórias das famílias e das próprias comunidades, das histórias dos fundadores. As histórias das comunidades eram, em grande medida, sobre os casamentos, as heranças e as divisões de terra, a circulação de pessoas para São Paulo, mas também para outros lugares. Por outro lado, havia ali famílias chegadas em anos recentes e relação de casamento, filiação ou irmandade com aquelas que ali estavam.
Nas mesmas comunidades tem-se famílias de coronéis associadas à fartura e à política, e pessoas de família considerada porqueira. Questionou-se o casamento da jovem que optou por não se casar com o primo. Em pelo menos um dos aspectos necessários do reconhecimento da heterogeneidade e da complexidade dessas relações de parentesco das comunidades do Peruaçu, as histórias dessas famílias indicam uma lógica da herança e da fragmentação da terra entre os herdeiros, casamentos e arranjos familiares, o que sugere uma forma de aqueles grupos se manterem na terra.
Observe-se ainda que embora eu tenha escolhido grafar Coronel em letra maiúscula para destacar um daqueles que originou as famílias e comunidades, as pessoas faziam alusão a vários outros coronéis das comunidades (em grande medida, descendentes do Coronel). Assim, coronéis designa de maneira mais genérica os homens que no processo relacional entre famílias possuíam mais recursos, não apenas econômicos, mas simbólicos e sociais, como acesso ao prefeito, na narrativa local.
Portanto, se, a princípio, ali todo mundo era parente, olhando mais de perto, as posições e condições dessa parentagem eram muito mais diversas do que podiam parecer.
Campesinato, família, migração e memória
No debate sobre campesinato[17] e, talvez ainda mais especialmente sobre o campesinato brasileiro, os significados da circulação espacial de pessoas pelo Brasil (ou pelo mundo), as definições de família e a reflexão sobre memória são temáticas que convergiram em sua interface para o esboço da problemática apresentada.
No caso dos estudos sobre camponeses irlandeses, Arensberg e Kimball (1968) trazem uma discussão clássica dos arranjos familiares, que é a dificuldade de todos os filhos permanecerem na terra, apontando para as diferentes modalidades de reprodução social das famílias camponesas.
Esse trabalho contribui para pensar a fragmentação da terra e um dos sentidos da circulação de pessoas combinados à diversificação de ocupações entre os moradores das comunidades do Peruaçu. Em um relato, dois irmãos descendentes de uma das famílias de coronéis me contaram que todos os anos tinham que sair pra fora (de sua comunidade, de sua casa) porque o lugar (o Norte de Minas, Januária) era fraco pra caçar recurso. Um deles estava à espera da resolução de uma partilha de terras que herdariam do pai.
Quem trabalhava fora, dizia-me, trabalhava na intenção de juntar, guardar um dinheirinho, para comprar uma coisinha, investir em algum negocinho como gado, porco, galinha; comprar animaizinhos para criar; para se manter ali. Se tivesse uma galinha, podia-se matar para comer, não precisaria comprar. O gado funcionava como uma reserva, quando não se tinha um ganho. Quando não se estivesse comendo e precisasse sair para São Paulo, vendia-se uma vaca por pouco mais de mil reais e se tinha o dinheiro para voltar. Chegando lá, trabalhava-se, juntava-se um pouco. Quando se chegasse cá, empregava-se o dinheiro no gado e quando fosse preciso, teria de volta.
Apesar disso, poucos homens ali tinham condições de fazer esses investimentos. O problema não era comprar o gado; explicava-me. Quem trabalhava fora (na colheita de café, no corte de cana) poderia até ter o dinheiro para comprar. Mas não tinha o lugar de criar; não tinha a terra onde colocar o gado, não tinha capim para alimentar o animal.
Ainda sobre a diversificação de atividades e diferenciação camponesa, a partir das formulações ouvidas de sujeito e liberto, Garcia Jr. (1989) dedicou-se, nos anos de 1970, a entender a presença da forma salário entre camponeses da Paraíba. O autor descreveu a especificidade do sistema de relações da plantation e as características do exercício da dominação tradicional e o processo de transformação, nesse contexto, com o fim da relação de morada. O antropólogo analisou as estratégias de reconversão da classe patronal e dos lavradores. Entre os últimos, Garcia Jr. (1989) mostrou a diferenciação camponesa, a partir das condições distintas: a montagem do negócio, o alugado etc.
O que pareceu a preocupação para Garcia Jr., no âmbito do debate que se colocava naquele momento, era argumentar sobre as possibilidades de o campesinato continuar existindo. Assim, as condições centrais para a constituição do mercado de trabalho especificamente capitalista, como a liberdade pessoal dos trabalhadores e a eliminação de relações de dependência personalizada, também podiam permitir o surgimento ou desenvolvimento do campesinato, e não o seu desaparecimento. Dessa forma, a migração para São Paulo podia ser um dos elementos que possibilitava a reprodução camponesa.
Em um mesmo sentido de Garcia Jr. (1989), o trabalho de Klaas Woortmann (1990) aponta a migração como estratégia de reprodução social do campesinato no sertão de Sergipe. “Camponeses são, além de produtores de alimentos, produtores também de migrantes”, afirmou o autor (WOORTMANN, 1990, p. 35). Naquele contexto, a migração de camponeses não podia ser interpretada estritamente como fruto da inviabilização de suas condições, mas como sendo constitutiva de práticas de reprodução.
Como já dito neste trabalho, a circulação de pessoas explicitada nos termos sair pra fora entre os moradores do Peruaçu era um dos elementos fundamentais das narrativas. O porquê de sair, em que condições sair, para onde ir, onde ficar, o porquê de voltar ou permanecer. Embora muito fosse dito sobre sair para caçar recurso ou pela fraqueza do lugar, não era possível reduzir a busca por “recursos” – ou ao menos não recursos materiais – às razões pelas quais as pessoas circulavam.
Naquele mesmo trabalho, Klaas Woortmann (1990) identificou três modalidades de migração nesse contexto, que possuíam significados específicos: a migração pré-matrimonial do filho, a migração circular do pai/chefe de família e a emigração definitiva. A partir da distinção entre sitiantes fortes e fracos construída pelos seus próprios interlocutores em virtude da avaliação de suas condições materiais, o autor demonstrou que a migração não tinha apenas um significado prático de acúmulo de recursos (e que, em alguns casos, era o que possibilitava a condição para a permanência camponesa), como era para os fracos. Sobretudo para os sitiantes fortes, a migração assumiria um significado simbólico e um sentido ritual, ao ser constitutiva da transformação do rapaz em homem. Sair para viajar e conhecer o mundo proporcionava superioridade em relação às pessoas que nunca haviam saído do lugar, como afirmou Woortmann (1990).
Ressalto a crítica de Palmeira e Almeida (1977) e Guedes (2013) à noção de que os sujeitos se deslocam puramente por imperativos econômicos externos a sua lógica e vontade. Guedes, em pesquisa no Norte de Goiás, argumenta a existência de uma “tradição” em que o deslocamento e a mobilidade são constitutivos da vida. Dessa ótica, o que existe “entre” de onde se parte e aonde se chega – o mundo, o trecho – também se habita.
A respeito dos significados de migrar, Palmeira e Almeida (1977) problematizam a reiteração estereotipada das noções de migrante e migração, e as prefixadas condições que as perfazem (como ponto de partida/ponto de chegada) por certo senso comum intelectual, que desaba na monotonia do conceito, nos termos dos autores. Tal operação dificulta, observam, o entendimento dos processos sociais que se quer explicitar: os deslocamentos espaciais de populações humanas pelo globo. Um dos efeitos nocivos da reificação da ‘migração’ de uma ótica genérica é justamente reduzir aos mesmos significados movimentos que são sentidos e pensados de maneiras muito diferentes pelos grupos que os realizam.
O trabalho de Ellen Woortmann (1995), sobre a unidade familiar como fundamento da identidade social por meio das relações de parentela camponesa em Sergipe e no Rio Grande do Sul, e o de Godoi (1999), sobre memória coletiva, solidariedade, identidade e exclusão entre camponeses do Piauí, sugerem pensar como remeter a uma certa história de origem, preservar uma história de origem comum é uma forma de construir, de demarcar pertencimento.
Por meio do trabalho de campo que permitiu o acompanhamento intensivo do cotidiano de camponesas sergipanos e gaúchos, Woortmann utilizou também o que chamou de história oral, ou a memória dos grupos pesquisados. A autora analisou as relações que interligavam diferentes unidades domésticas para compreender a reprodução camponesa por intermédio das relações geracionais de parentesco (WOORTMANN, 1995).
A análise das “histórias de vida” ou das memórias que atravessam as gerações de parentesco requer a explicitação do modo como se agencia a dimensão tempo das narrativas. Woortmann transita, neste sentido, entre a reconstrução de uma macro-história e uma micro-história. Na primeira perspectiva, a autora analisa a inserção dos grupos camponeses sergipanos em processos históricos mais amplos – regionais, nacionais ou internacionais. Na segunda perspectiva, os camponeses constroem suas histórias, e a pesquisadora faz operar a elaboração de uma “história-mito” (WOORTMANN, 1995, p. 16). Com o objetivo de entender as dinâmicas dos diferentes grupos familiares, Woortmann pesquisou as histórias das pessoas e das famílias. A autora propõe, portanto, analisar o parentesco na sua temporalidade e em “contexto” (WOORTMANN, 1995).
Utilizo aqui a dimensão da temporalidade na perspectiva da história-mito de que trata Ellen Woortmann (1995) ou do trabalho da memória de que fala Godoi (1999). Interessam-me as histórias construídas pelos moradores das comunidades do Peruaçu sobre suas vidas e seus entrelaçamentos com as histórias das famílias e dos fundadores que deram origem àquelas famílias e o que isso representa em termos de demarcação de parentes e não parentes. O trabalho de Verán (1999) sobre a comunidade quilombola Rio das Rãs no Norte de Minas Gerais também apresenta uma importante contribuição sobre os sentidos da elaboração de uma memória coletiva em relação à pertença a uma comunidade e a um território.
Embora nas histórias aqui retratadas existam algumas referências a fatos externos às vidas das comunidades, tais referências são muito esparsas e não há a pretensão da reprodução de um registro histórico preciso. Mesmo para esses fatos que eu chamei de externos, me baseei nos relatos dos meus interlocutores, sem me propor a consultar fontes históricas e documentais que embasassem as narrativas dos meus entrevistados e entrevistadas.
Em estudo etnográfico realizado no sertão do Piauí, Godoi (1999) teve como objeto a ocupação e reprodução camponesa. O estudo foi realizado em três povoados diferentes. Naquele momento, enfatiza a autora, a memória coletiva daqueles grupos é ativada no contexto de pressão sobre seus territórios. A memória coletiva passa a atuar, então, como construtora de solidariedade, identidade e portadora de imaginário, delineando regras de pertencimento e exclusão que marcavam as fronteiras sociais do grupo.
Assim, o fio condutor das narrativas desdobradas por Godoi é o que a autora denominou como trabalho da memória, captado através das histórias selecionadas e fornecidas pelos seus interlocutores sobre como se deu a ocupação de suas terras (GODOI, 1999, p. 16). A partir daí, a análise se desdobra no estudo da trajetória da transmissão da terra e do estudo do tecido genealógico de vários grupos familiares (GODOI, 1999).
Godoi destaca as diferentes representações entre os grupos dos distintos povoados como gente do lugar e os fracos, a partir do estudo das suas tradições orais. Havia três irmãos que eram os fundadores das primeiras unidades familiares que formaram o povoado Zabelê, dos mais fracos. Inicialmente, os fundadores habitavam uma área maior, chamada Fazenda Várzea Grande. Quando do trabalho de pesquisa de Godoi, essa antiga região se tornara três povoados: Rua Velha, Barreiro Grande e Barreirinho. A história do povoado Zabelê era marcado pela “marginalidade e pela itinerância” (GODOI, 1999).
A pesquisa também confere destaque ao discurso genealógico que se faz presente a todo momento quando se trata da história daquele grupo, vinculando-se ao que Godoi nomeia como rede de circulação da autoridade no seu interior e a determinadas práticas rituais, que permitiram compreender os sentidos de um modo de vida em reprodução (GODOI, 1999).
A autora detém-se na classificação das histórias de fundação em diferentes tradições familiares, de acordo com a incidência dessas tradições nos diferentes povoados que se originaram da divisão das terras da fazenda original.
Godoi enumera a tradição oral A, partilhada por todos os povoados, e cujos moradores se diziam descendentes de um mesmo ancestral, formando uma única família ou nação de gente. Essa expressão era utilizada para denominar um conjunto de parentes que partilhariam uma antiga memória genealógica referente ao mesmo ancestral.
Havia também uma tradição oral B, concernente à fundação do povoado Zabelê. Esta tradição incidiria quase que exclusivamente naquele povoado. Em seguida, tinha-se a tradição B’, que se construiria a partir de um desdobramento da tradição oral B, com a diferença essencial da técnica de organização e de transmissão deste saber. Nesta tradição B’, houve a mudança da tradição oral para a esfera da escrita, associada à rede de circulação da autoridade em Zabelê (GODOI, 1999, p. 17).
Sobre a conformação da genealogia do parentesco ao lugar desses grupos camponeses, Godoi afirma que:
Nesta discussão, o território assume dimensões sociopolíticas, e quase cosmológicas, importantes na construção da identidade distintiva do grupo – a memória-mundo destes camponeses está inscrita no solo do lugar. (1999, p. 17)
É a partir da aproximação do debate trazido por Godoi e inspirada pelo trabalho dessa autora sobre trabalho de memória, parentesco e território,[18] que me deterei a respeito de três ramificações de origem das famílias dos povoados pelos quais circulei: a do Coronel, que se relaciona com a Família A e a Família A’; a de Andalécio, o famoso jagunço fugido de São Francisco, casado com a fundadora que forma a Família B e a dos Baianos, chegados de Correntina.
Coronéis, jagunço e baianos
Lucas tinha 68 anos quando o conheci. Era morador do Araçá, e alguém sempre tido como referência tanto para a comunidade (ao menos em parte) como para os funcionários da Cáritas e de outras organizações que atuavam naquelas localidades. Referência significava alguém com quem se deveria falar, alguém que tinha o que se poderia chamar de um protagonismo de fala em eventos da coletividade local, fosse na Igreja (católica) ou nas reuniões dos projetos.[19] Nas palavras dos agentes Cáritas, seu Lucas era uma liderança. Ele foi a primeira pessoa que conheci e entrevistei naquelas comunidades.
O Coronel, tio-avô de seu Lucas, era dono de toda aquela terra. Depois de algum tempo, ele vendeu as terras para cinco sobrinhos: quatro homens e uma mulher, o que fez daquela terra uma irmandade. O pai de seu Lucas, um dos compradores, adquirira cerca de 125 hectares.
O pai de seu Lucas era, então, nascido e criado na comunidade Estiva, um pequeno lugarejo que, por vezes, se denominava parte da localidade de Olhos D’Água e de vez em quando se referiam como sendo uma comunidade à parte (recentemente, havia ali apenas cinco casas e um cemitério). Foi depois que se casou que comprou o terreno onde o filho Lucas vivia, já no Araçá, na outra ponta daquela sequência de comunidades.
O pai de meu interlocutor teve sete filhos, duas mulheres e cinco homens. Quando os pais de seu Lucas morreram, a herança ficou para os filhos. Aqueles 125 hectares de terra foram divididos entre os irmãos. Moravam ali, além de seu Lucas, outros dois irmãos e duas irmãs; havia um que morava em São Paulo, que ficou com a taperinha velha (uma casa menor e mais antiga), onde era a residência do pai. Um irmão havia morrido.
Era comum encontrar esse tipo de arranjo: um filho fazia uma casa no mesmo terreno que o pai. Entre os mais velhos, via-se isso muitas vezes: uma casa fechada, que pertenceu aos pais, já mortos, no mesmo terreno da casa usada pela família.
Antes de morrer, era comum que o pai deixasse cada filho no seu lugar, com o seu pedaço de terra da herança. O mais comum também era que, após o casamento, a mulher fosse viver na terra que era direito do marido. Por razões diversas, isso poderia se inverter – a terra de herança da mulher era melhor para plantar ou mais bem localizada do que a do marido.
Muitos saíam e vendiam as terras herdadas porque não iam mexer com roça nem criar gado. Havia também vários núcleos em que os pais mais idosos viviam no mesmo terreno que um dos filhos. Os outros irmãos, em geral, haviam saído ou as irmãs mudaram-se para a terra do marido. Esse sair poderia ser ir para São Paulo ou para a área mais urbanizada do município de Januária ou Itacarambi.
Seu Lucas, os irmãos e irmãs haviam herdado o direito comprado pelo pai do tio-avô, o Coronel. As pessoas casavam-se, criavam família, tinham filhos e dividiam a terra entre os seus filhos. Lucas teve quatro filhos: um rapaz e três moças. Duas de suas filhas moravam em São Paulo; uma filha morava na mesma casa em que ele e a esposa, e o filho morava em outra comunidade.
Apesar de ter vindo de uma família do coronelismo, disse-me seu Lucas, sua família era pobre. Se entendia como descendente do coronelismo, mas sua terra e seu trabalho eram apenas para a sobrevivência. O sentido de coronel remete ao sentido do poder e do prestígio diferencial e recursos materiais e simbólicos.
Seu Lucas ia com frequência para São Paulo, quando mais jovem. Trabalhou em usina de cana, colheita do café. No Vale do Peruaçu, trabalhou para uma mineradora que havia se instalado, até que se aposentou por invalidez por causa de um problema na coluna
Entre as terras que lhe haviam sido deixadas pelo pai, seu Lucas tinha também um direito quase na nascente do rio Peruaçu. Esse lugar, a Posseirama, estava incluído no campo de atuação do Projeto Peruaçu e seria transformado em uma área extrativista, além de ser também uma área de retiro dos animais, especialmente na escassez de chuva, para que se repusesse o pasto nas outras localidades. Havia muitos outros núcleos familiares que tinham direitos naquela mesma área de uso comum.[20]
Assim, a partir da herança e divisão da terra, dos casamentos e filhos, os descendentes, sobrinhos-netos do Coronel, constituíram uma parte das unidades familiares daquelas comunidades.
Em outro momento, o casal Carlos e Abigail explicou-me que todos aqueles lugarejos faziam parte de uma delimitação mais genérica conhecida como Fazenda Velha, pertencente a uma das fundadoras daquelas comunidades e famílias, a fundadora da Família A’. Seu Lucas, sobrinho-neto do Coronel, era da família fundadora A. Essas duas Famílias A e A’, se diferenciavam pelo segundo e último sobrenome, que indica a filiação paterna como criadora dessas duas descendências.
As histórias sobre denominação das áreas mais amplas, divisão de terras e ocupação são difíceis de reproduzir e precisar. Identifiquei, em Januária e arredores, várias áreas que eram chamadas fazendas, como uma denominação remetida ao passado, pelos agricultores daquelas localidades. A respeito disso, Ribeiro (2010, p. 105), em artigo sobre a história da configuração fundiária da região e seus arranjos produtivos, informa que, naquele município e no seu entorno imediato, as maiores unidades de referência fundiária são as fazendas gerais – grandes e antigas unidades de domínio de terra que incluem e compreendem os estabelecimentos atuais, mesmo depois de décadas de partilhas, fusões e desmembramentos.
O que ouvi durante o trabalho de campo se encaixa com o registro de Ribeiro, e me parece que é o caso da Fazenda Velha: a fazenda geral é uma referência espacial para fins de domínio e unidade administrativa para localização de documentos em cartório. Mas não somente. A fazenda é também um espaço para delimitar lugares de soltas nos gerais. Dentro da fazenda, explicita o artigo do autor, agricultores e fazendeiros compartilham o direito costumeiro de solta e coleta. Desse modo, o sítio familiar é apenas um fragmento da distribuição da terra.
Carlos e Abigail eram, portanto, netos da fundadora da Família A’; avó materna de seu Carlos e avó paterna de dona Abigail.
Autora: Qual era o nome dos avós da senhora?[21]
Dona Abigail: Era (A’).
Autora: Não era ela uma das fundadoras da comunidade?
Dona Abigail: Sim, e também (B) lá embaixo, e o velho Rodrigo ali, ó. São os fundadores dessa comunidade toda.
Seu Carlos: Mas tudo é dividido. Tinha uns povos pra lá, outros pra cá. Inclusive, nós somos netos da (A’). (Carlos e Abigail, moradores de Olhos D’Água)
Todo mundo se sabia parente, mas pedir para explicitar os graus de parentesco ou como tudo aquilo se tornou um emboleiro, como as famílias se misturaram, era uma tarefa complexa.
Ao mesmo tempo, se em certos contextos não interessava precisamente saber qual o grau de parentesco – se eram primos e primas e de que grau, ou se eram tios e tias –, em outros havia um empenho em diferenciar as famílias/as gentes, para evidenciar as distinções.
Vale observar que, depois de tanto ouvir histórias de famílias e descobrir os parentescos – casamentos entre todo um grupo de irmãos com outro grupo de irmãs, tio que depois que enviuvou casou-se com a sobrinha da esposa, casamentos entre primos carnais –, mapear as genealogias daquelas cinco comunidades contíguas – Araçá, Olhos D’Água, Estiva, Quilombo e Janelão – tornou-se alvo do meu interesse. Contudo, parecia-me que faltavam partes das histórias.
Todavia, os fragmentos ausentes das histórias constituem, eles mesmos, as histórias narradas: nas ausências precisas das genealogias ancestrais é que são construídas as marcações distintivas, as indiferenciações, as conexões e desconexões. As memórias construídas de origens mais ou menos comuns e das conexões de parentesco criam laços e diferenciações entre os moradores daquelas localidades, considerando as relações ali perpetuadas.
Vieira (2015, p. 46) nos conta sobre o que significava ‘tocar parenteza’ na elucubração nativa por ela investigada: uma performance de conexidade que atualiza alguns vínculos de uma rede de cognação indefinidamente extensível. Nesse sentido:
Um exercício muito comum que pode, por fim, descobrir ligação entre pessoas cujo vínculo de parentesco não era conhecido e novos pontos de contato entre já reconhecidos parentes. A parenteza remete à possibilidade de conexão virtual entre os moradores das comunidades. (VIEIRA, 2015, p. 48)
Aproximo a análise de Vieira das formulações dos moradores e moradoras das comunidades do Peruaçu. O exercício da conexão dos vínculos do parentesco, com o qual também me deparei, a despeito de não ter sido na expressão “tocar parenteza”, remete a uma das formas de fazer pertencimento: a elaboração do parentesco, que não tem a ver exclusivamente com uma questão genealógica ou de “sangue”.
Seu Carlos havia nascido na vizinha comunidade Estiva; aquela terra onde vivia com dona Abigail desde o casamento pertencera a seus avós, pois eram primos. Era uma herancinha (uma herança pequena) de seu sogro e tio.
Seu Carlos: Mas aqui é muito herdeiro! Aqui são em 12! De Adauto até aquele barracão era tudo da minha avó. Meu avô e minha avó (A’). Mas esse era um bando de filho deles aí. Aí enfiou a tesoura, foi retalhando pra um e pra outro. Aí nós estamos aqui na herança, eu pelo menos, na herança do meu sogro, que era o pai dela. Herança que ele teve lá do pai dele. Só que aí, nesse meio tempo, a gente já comprou mais um direito, inclusive aí, ó. Essa casinha aí, era outro dono! Outro herdeiro! A gente já comprou, encostou aí. E aí fui quietando aí... graças a Deus, tá ampliado.
[...]
Seu Carlos: Vem de lá pra cá de Marta, que é minha irmã: o Juca é meu primo carnal. A mãe dele é irmã de meu pai. Aí vem pra cá, pulou, pulou (as casas). Adélia é minha prima carnal. O pai dela é irmão de meu pai, que é Rodrigo ali. Aí vem pra cá: Rosa é minha prima. O pai dela é irmão da minha mãe.
Dona Abigail: Inclusive irmão do meu pai.
Seu Carlos: Nós também somos primo carnal. Somos filhos de dois irmãos.
Dona Abigail: A mãe dele é irmã do meu pai. (...) Essa vila aqui tudo são primos!
Seu Carlos seguiu explicando a sequência de terras divididas entre primos/parentes/vizinhos, desde o Araçá até Olhos D’Água. Seu Samuel era seu primo carnal. A casa de seu Samuel ficava no limite entre aquelas duas comunidades. O pai de seu Samuel era irmão do pai de seu Carlos. Pelo lado da mãe, seu Samuel era parente de um outro povo. Esse outro povo era até parente de seu Carlos, mas um parentinho mais terceirizado pra lá. E lá no Araçá havia o povo do Lucas, que eram seus primos:
Seu Carlos: Onde tem aquele campo de bola, aquela igrejinha dos crentes ali, ali pode fechar lá no Lucas, pode fechar assim. Passa um correntão lá, é tudo parente.
Dona Abigail: De compadre Lucas até ali, naquele campo de bola. Tudo é primo um do outro.
(...)
Dona Abigail: Mas aqui... Eu acho que só tem uma vilazinha ali que o povo que já é fora, que não é parente da gente.
O parentinho, como mencionado por seu Carlos, difere do sentido afetivo do diminutivo; neste caso, a combinação com a expressão pra lá indica distanciamento em relação a alguém que é parente.
Se há diferentes povos e gentes, mesmo entre quem é parente, não se é parente do mesmo jeito. Os primos, e talvez ainda mais o primo carnal parece ser um parente de primeira ordem. A adjetivação carnal, que refere ao sangue, pode ser o elemento metafórico que promove a proximidade, ainda que o “sangue” não se reduza à “biologia”, sendo também uma imbricação do social.
Edwards fala sobre a noção da remoteness e seus limites como dispositivo operador de distinções. Bacup, o ex-pródigo distrito industrial inglês sobre o qual escreve, é descrito, no imaginário popular, como se fosse remoto, distante e distinto. A autora desdobra a análise de como a noção do distanciado é multiplamente utilizada como forma de diferenciação cultural (EDWARDS, 2000, p. 20).
O processo de inclusão e exclusão, de quem é “de fora” ou “de dentro”, é contínuo e instável. O senso de diferenciação, de aproximação e distância se transforma nas situações diversas, de acordo com os sentidos possíveis que adquirem, afirma Edwards (2000). A própria ideia das culturas distintivas ou comunidades distintivas, para usar os termos da autora, são formuladoras dessas culturas e comunidades; são arquétipos.
Os residentes das cidades vizinhas se desdobram para se diferenciar daqueles de Bacup. Por sua vez, os bacupianos também mobilizam o remoteness – a criação da distância cultural – em relação aos habitantes das outras cidades, criando meios e processos de diferenciação (EDWARDS, 2000). A demarcação de quem pertence ou não pertence opera, portanto, em diferentes direções: do “interior” para o “exterior” e do “exterior” para o “interior”.
As falas de Carlos e Abigail invocam a imagética da oposição dentro/fora: fechar, passar o correntão põe os parentes no interior fechado; os parentes que estão dentro. Quem já é fora, é o povo que não é parente, o que pode ser sintetizado nos binômios parente/dentro e não parente/fora.
A noção do remoteness, de Edwards (2000), pode funcionar como o elemento circular de criação da distância internamente à comunidade, como mecanismo operador de distinções, atravessando a indiferenciação do emboleiro (de gente, de família), que é aquilo que não se pode separar.
Havia gentes não descendentes das Famílias A e A’, como os netos de Andalécio e da fundadora da Família B. Andalécio aparece retratado na obra de Guimarães Rosa, Grande Sertão: Veredas, como se lê a seguir:
Viver é muito perigoso... [...] esses homens! Todos puxavam o mundo para si, para o concertar consertado. Mas cada um só vê e entende as coisas dum seu modo. (...) Antônio Dó – severo bandido. (...) Andalécio, no fundo, um bom homem-de-bem, estouvado raivoso em sua toda justiça”. (2015, p. 26)[22]
Na narrativa de seus descendentes e de outros moradores das comunidades do Peruaçu, ele era descrito como o Lampião de Januária. Após ser baleado e morrer em São Francisco, cidade próxima, sua esposa teria ido para o Peruaçu, sendo a fundadora da Família B.
Se a caracterização da figura de Andalécio no passado remete ao jaguncismo, o que alude de modo quase imediato à violência, esse aspecto não se perpetuava em associação aos seus descendentes. Ou seja, essa gente não era tida como gente violenta.
Os descendentes da Família B, foram definidos por um casal da Família A como sendo nascidos e criados ali, amigos, mas com outro sobrenome; não eram parentes, era gente de outra nação. Essa Família B constituía uma razoável quantidade de unidades familiares em sequência, uma extensão de irmãos e irmãs já idosos. Era também uma família de referência, em que vários de seus membros tinham uma atuação ativa diante dos projetos da Cáritas. Havia também muitos casamentos entre primos carnais na Família B.
A Família B tinha prestígio na comunidade. Em termos de recursos econômicos, era considerada bem provida. Quase todos os filhos e netos dos casais não viviam na comunidade. Muitos estavam em São Paulo e vários lograram escolarização de Ensino Superior.
É importante observar que, embora houvesse diferenças econômicas entre as famílias da comunidade, nos relatos dos homens mais velhos em suas idas para São Paulo quando jovens, por exemplo, as narrações coincidiam bastante em relação ao tipo de ocupação que exerciam.
Dentro da própria comunidade havia também situações em que vizinhos trabalhavam uns para outros. Havia mulheres que faziam faxina na casa de outras, meninas mais jovens que trabalhavam cuidando de crianças pequenas de outras famílias e homens que eram chamados a fazer trabalho como pedreiro para vizinhos ou limpeza de terreno, arrancando toco, como se dizia.
Assim como nem todo parente é parente do mesmo jeito, quem não é parente também não é não parente do mesmo jeito. Ou, se aceitamos os binômios parente/dentro e não parente/fora, são diversas as situações de quem está “dentro” e de quem está “fora”. Tem gente que não é parente, mas é amigo, é nascido e criado na comunidade, o que cria, ao menos idealmente uma proximidade potencial.
As Famílias A, A’ e B tinham como referência espacial a predominância nas comunidades do lado de Januária do rio Peruaçu: Araçá, Olhos D’Água, Quilombo, Janelão. Do outro lado do rio Peruaçu, no município de Itacarambi, a localidade rural Vargem Grande (ou ao menos parte dela) era comumente referida como o lado dos Baianos, o povo dos Baianos. Foi aonde? Foi lá nos Baianos.
Os Baianos eram descendentes do finado baiano que havia chegado de Correntina, há muitos anos. Sua esposa, beirava os seus 90 anos nos tempos em que por lá andei. Eles haviam tido dez filhos. Como já citado neste texto, havia um trecho de sequência de casas consideradas Os Baianos. Os Baianos eram por alguns referidos como gente brava, gente que brigava (entre si).
A representação de “baianos” como gente “brava”[23] e gente que briga parece ser algo que, sem medo de errar, se pode dizer que povoa o imaginário brasileiro, na perpetuação dos estereótipos regionais. Nessa visão, que corrobora práticas discriminatórias, em diferentes contextos, não apenas o “baiano” como o “nordestino” ou o “paraíba” – tantas vezes ditos como equivalentes ou como síntese indiferenciada –são associados à violência.
Os Baianos assumiam esse lugar específico naquele conjunto de unidades de residência e na marcação distintiva já na enunciação da fala. Desde que cheguei àquelas localidades, soube que os Baianos eram outras pessoas, o que não era marcado em relação às outras “linhagens” de famílias.
Eles tinham, portanto, esse lugar espacialmente e simbolicamente distinto. No entanto, isso não significa que houvesse um isolamento das pessoas do lado dos Baianos na comunidade, ou que não houvesse relações entre essa família e as outras. Havia convívio, eventuais visitas às casas e outras práticas comuns de convivência de vizinhança entre as outras famílias e o povo dos Baianos.
Nas relações entre as famílias – A, A’, B, o povo dos Baianos, outras famílias ou povos – havia, enfim, distanciamento e aproximação em diferentes tempos e espaços de convívio e sociabilidade, como festas nas comunidades, missas, cultos, enterros, celebração de nascimentos, reuniões de projetos da Cáritas. Em algumas situações, enfatizava-se as diferentes descendências, quem era “de fora” ou mais “de fora”, quem chegou depois (como o povo dos Baianos); em outros momentos e nas ênfases de outras pessoas, destacava-se a ideia de uma unidade das comunidades, ou as comunidades como sendo “uma coisa só” ou todo mundo parente. Essas marcações de quem é de fora e quem é de dentro, de distanciamento e aproximação, de unidade e heterogeneidade não são exatamente fixas; elas se movimentam, se acentuam ou se atenuam nas diversas circunstância de quando se fala, para quem se fala, a partir de quem se fala.
Considerações finais
Este texto teve como objetivo refletir sobre as marcações distintivas entre famílias em comunidades do Vale do Peruaçu, nos municípios de Januária e Itacarambi no Norte de Minas Gerais. Na tentativa de compreender as relações sociais e os mecanismos de reprodução daqueles grupos, busquei argumentar que uma análise mais minuciosa das histórias de fundação das comunidades contadas pelos descendentes dos fundadores e das fundadoras e por outros(as) moradores(as) é um indício para compreender as assimetrias de condições materiais e simbólicas entre famílias. Essas assimetrias, que podem parecer irrelevantes ou imperceptíveis para um olhar externo, são significativas para as pessoas do lugar.
O trabalho teve como foco a descrição e análise de histórias que compunham a memória da fundação das comunidades, pensada como o seu início a partir da chegada daqueles e daquelas que deram origem às famílias que ali permanecem. Essas histórias empenhavam um esforço, mais ou menos difuso, de uma recomposição das genealogias das famílias.
Se na primeira chegada à região, o que mais se ouvia era que ali todo mundo é parente, com o tempo pude ser apresentada às distinções entre parentes e não parentes, gentes de diferentes nações, sobrenomes, povos, nos dizeres nativos. Mais do que isso, nem todo parente é parente do mesmo jeito, assim como nem todo não parente é não parente do mesmo jeito.
No exercício da rememoração da descendência, em certas ocasiões, havia um esforço maior em marcar quem era parente e quem não era parente, e quem era um parente distante (um parentinho). Do mesmo modo, não ser parente não significava sempre o mesmo. Havia gente não parente amigo, nascido e criado no mesmo lugar e outros não parentes mais distanciados.
O recorte do artigo ficou circunscrito a três famílias com a parentagem mais numerosa do lugar: as Famílias A e A’, originárias no sujeito que nomeei apenas como Coronel; a Família B, que inicialmente me foi apresentada como sendo dos descendentes de Andalécio, jagunço, chamado de Lampião de Januária; e o povo dos Baianos. No que se refere à Família B, a esposa do Andalécio, em um segundo momento das narrativas das pessoas dessa família, adquire um protagonismo mais real como sendo uma das fundadoras da comunidade.
A problemática do artigo consistiu na reflexão sobre como as marcações distintivas entre famílias modulam as relações entre as pessoas. As escolhas de casamento (na perspectiva da família da mulher), por exemplo, podiam ser mediadas pela avaliação dos melhores partidos, homens das famílias consideradas mais prósperas, com mais recursos econômicos e sociais.
Esse processo também atravessa as histórias de divisão de terras e heranças, e os casamentos entre primos carnais, lido como estratégias de reprodução camponesa para evitar a fragmentação da terra.
Naquelas comunidades, havia uma diversificação de atividades para a reprodução das famílias. O assalariamento fora, a ida para São Paulo, o trabalho no corte de cana, colheita de café, investimento em cabeça de gado, tentativa de montar um negocinho, trabalhar como pedreiro ou faxineira, participar de programas de incentivo à agricultura familiar, trabalho como motoboy etc. eram algumas das ocupações daqueles moradores do Peruaçu. Essas ocupações variadas e as possibilidades que as criam também explicitam a heterogeneidade das condições dos grupos familiares. Tanto os que saem quanto os que ficam o fazem em condições bastante variadas.
As marcações de quem é de dentro e quem é de fora, de criação de proximidade e distanciamento, nas especificidades das situações em que são contadas, são atualizadas no trabalho da memória (GODOI, 1999) das histórias de famílias e seus ancestrais e das comunidades, e pode ser pensado como um processo de demarcação de distinção e identidades. Conhecer a heterogeneidade das relações constitutivas e de reprodução dessas comunidades é significativo no intuito da compreensão do pertencimento tecido como território.
Referências
ARENSBERG, Conrad; KIMBALL, Solon. Family and community in Ireland. Cambridge: Harvard University Press, 1968.
EDWARDS, Jeanette. Born and bred. Idioms of kinship and new reproductive technologies in England. New York: Oxford University Press, 2000.
GARCIA JR., Afrânio Raul. O Sul: caminho do roçado. Estratégias de reprodução camponesa e a transformação social. São Paulo: Marco Zero; Brasília: Editora Universidade de Brasília, 1989.
GODOI, Emília Pietrafesa de. O trabalho da memória: cotidiano e história no sertão do Piauí. Campinas: Editora da Unicamp, 1999.
GUEDES, André Dumans. O trecho, as mães, os papeis. Etnografia de movimento e durações no norte de Goiás. São Paulo: Garamond, 2013.
KROEBER, Alfred. Anthropology. New York: Harcourt-Brace, 1948.
LEAL, Victor Nunes. Coronelismo, enxada e voto: o município e o regime representativo no Brasil. 7. ed. São Paulo: Companhia das Letras, 2012.
NOGUEIRA, Verena Sevá. Trabalho assalariado e campesinato: uma etnografia com famílias camponesas. Horizontes Antropológicos, Porto Alegre, v. 19, n. 39, p. 241-268, 2013. Disponível em: https://www.scielo.br/j/ha/a/BJz7Rs3TmDYXxzdk6sfrDTh/?lang=pt. Acesso em: 7 jul. 2022.
NOVAES, Roberta Brandão. Do umbigo enterrado no chão: a tessitura da pertença e a produção da vida por populações rurais do semiárido mineiro. 2018. 230 f. Tese (Doutorado em Ciências Humanas e Antropologia Cultural) – Instituto de Filosofia e Ciências Sociais, Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2018.
PALMEIRA, Moacir; ALMEIDA, Alfredo Wagner Berno. A invenção da migração. Projeto emprego e mudança socioeconômica no Nordeste (Relatório de Pesquisa). Rio de Janeiro: Museu Nacional/UFRJ (mimeografado), 1977.
PEIRANO, Mariza. Etnografia não é método. Horizontes Antropológicos, Porto Alegre, v. 20, n. 42, p. 377-391, 2014. Disponível em: http://dx.doi.org/10.1590/S0104-71832014000200015. Acesso em: 7 jul. 2022.
PEREIRA, Antônio. Memorial Januária. Terra, rios e gente. 2. ed. Belo Horizonte: Mazza Edições, 2013.
REDFIELD, Robert.Peasant Society and Culture. Chicago,TheUniversity Chicago Press, 1965.
REDFIELD, Robert. The primitive world and its transformations. Londres: Penguin Books, 1969.
RIBEIRO, Eduardo Áureo Magalhães. Histórias dos gerais. Belo Horizonte: Editora da UFMG, 2010.
RODRIGUES, Rejane Meireles Amaral. Literatura e banditismo social: Antônio Dó retratado por Saul Martins e Petrônio Braz. Caminhos da História, Montes Claros, v. 25, n. 2, 2020. Disponível em: http://portal.amelica.org/ameli/jatsRepo/507/5072367002/html/#fn1. Acesso em: 8 jul. 2022.
ROSA, João Guimarães. Grande Sertão: Veredas. 21. ed. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 2015.
VÉRAN, Jean-François. Rio das Rãs. Memória de uma “comunidade remanescente de quilombo”. Afro-Ásia, Salvador, n. 23, p. 295-323, 1999. Disponível em: https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=77002310. Acesso em: 7 jul. 2022.
VIEIRA, Suzane de Alencar. Resistência e Pirraça na Malhada: cosmopolíticas Quilombolas no Alto Sertão de Caetité. 2015. 425 f. Tese (Doutorado em Antropologia Social) – Museu Nacional, Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2015. Disponível em: http://objdig.ufrj.br/72/teses/827797.pdf. Acesso em: 7 jul. 2022.
WOORTMANN, Ellen Fensterseifer. Herdeiros, parentes e compadres. Colonos do Sul e sitiantes do Nordeste. São Paulo: Hucitec; Brasília: UnB, 1995.
WOORTMANN, Klaas. Migração, família e campesinato. Revista Brasileira de Estudos de População, Rio de Janeiro, v. 7, n. 1, 1990. Disponível em: https://www.rebep.org.br/revista/article/view/546. Acesso em: 7 jul. 2022.
Como citar
NOVAES, Roberta. Aqui todo mundo é parente: memória, família e distinção em comunidades camponesas no Norte de Minas Gerais. Estudos Sociedade e Agricultura, Rio de Janeiro, v. 30, n. 2, e2230203, 6 set. 2022. DOI: https://doi.org/10.36920/esa-v30-2_03.
Roberta Novaes
Pós-doutoranda no Programa de Pós-graduação em Território, Ambiente e Sociedade da Universidade Católica de Salvador (PPGTAS/UCSAL). Professora do Centro Universitário Nobre (UNIFAN). Doutora em Antropologia e Ciências Humanas pelo Programa de Pós-graduação de Sociologia e Antropologia da Universidade Federal do Rio de Janeiro (PPGSA/UFRJ). Membro do Núcleo de Antropologia da Política (NUAP/MN/UFRJ) e do Grupo de Pesquisa Desenvolvimento, Sociedade e Natureza (DSN/PPGTAS/UCSAL).
https://orcid.org/0000-0003-2851-2641
http://lattes.cnpq.br/5703710673342110
|
Creative Commons License. This is an Open Acess article, distributed under the terms of the Creative Commons Attribution License CC BY 4.0 which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium. You must give appropriate credit, provide a link to the license, and indicate if changes were made. |